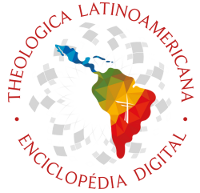Sumário
1 O tempo na experiência humana
1.1 A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva do tempo
1.2 A “humanização” do tempo
2 O tempo na experiência cristã
2.1 O tempo na Sagrada Escritura
2.2 O culto como memorial
2.3 A compreensão litúrgica do tempo
2.3.1 O objeto da celebração cristã
2.3.2 Na história, em direção à plenitude do Reino
2.3.3 Círculo, linha, espiral
2.3.4 Ano, mês, dia e hora
3 O ano litúrgico cristão
4 A reforma do Vaticano II
4.1 A atual estrutura do ano litúrgico
4.1.1 O ciclo ou tempo de Natal
4.1.2 O ciclo ou tempo pascal
4.1.3 O tempo comum
4.1.4 Outras festas do ano litúrgico
4.2 O tempo litúrgico como mistagogia da Igreja
1 O tempo na experiência humana
O tempo é, acima de tudo, uma experiência fundamental e determinante do ser humano. Junto com o espaço, são as duas coordenadas fundantes de sua experiência: estamos e nos movemos em um lugar e em um devir. Todo ser humano é gestado, nasce e vive, até sua norte, imerso nessas duas dimensões. Desde o espaço protegido, quente e nutritivo do útero materno, drásticamente abandonado no nascimento, para dar entrada no grande espaço do mundo, muito menos amável que o seio da mãe, o ser humano transita, habita e domestica o espaço natural ou o que ele mesmo constrói para viver.
Isso acontece de modo análogo com o tempo, que o homem experimenta como uma evolução contínua (um contínuo devir), sem movimento para trás, perceptível na mudança, renovação e envelhecimento das coisas e das pessoas, impossível de parar. “Muda, tudo muda”, diz uma conhecida canção popular latino-americana, que expressa não apenas a experiência da inevitável mudança, mas também a da persistência da memória e dos valores humanos.
O tempo é a experiência de que tudo pode ser medido em termos de sua duração. Dá ao ser pensante um passado, um presente e um futuro, que é tanto individual quanto social. O tempo e o espaço determinam o homem como indivíduo e como ser social, possibilitando e limitando, ao mesmo tempo, sua existência, que é radicalmente espaço-temporal. O homem não pode escapar da realidade de estar situado em ambas as dimensões, e pode experimentá-las como áreas de liberdade ou, também, de limitação.
A experiência do tempo está na mente e nas emoções, mais do que nos sentimentos. É mais difícil apreender, definir, medir e controlar do que o espaço. É uma experiência que desperta a sensação de fragilidade, de desamparo, de dependência de forças incontroláveis. Por isso, o ser humano sempre procurou controlá-lo, dominá-lo e superá-lo, colidindo com a impossibilidade objetiva de fazê-lo, porque é como um rio caudaloso que não pode ser detido. Essa experiência leva ao sentimento religioso. A religião tem a capacidade de inclinar em favor do homem um devir que amedronta, dando-lhe significado; ou construir, através de sua ritualidade, a ilusão de controlá-lo e dominá-lo.
A primeira e mais difundida ação de controle do tempo pelo homem é sua mensuração e, para isso, tem a ajuda da própria natureza.
1.1 A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva do tempo
Existem ritmos que ajudam o ser humano a medir o tempo. Entre aqueles que pertencem à própria natureza humana, estão os biológicos: as batidas do coração e a respiração são características de sua corporeidade. Entre aqueles que o homem observa na natureza estão os cósmicos, como o caminho diário do sol de leste a oeste, a sucessão do dia e da noite, os meses determinados pelas fases da lua e o movimento das estrelas que, ligado às estações da natureza, determina a duração de um ano.
Baseado nesses ritmos naturais, o homem criou ritmos sociais como a hora, a semana e o mês, que, em sua duração objetiva, variaram muito de tempos em tempos e de cultura para cultura. O ser humano não precisa apenas medir o tempo. Também é capaz de gerar um horizonte temporal e distinguir, em sua consciência, entre o momento presente, o passado e o futuro. Este horizonte depende da idade e do desenvolvimento intelectual e é determinado pela situação social de cada pessoa. Da mesma forma, o horizonte de tempo de um grupo humano depende, entre outros fatores, de seu desenvolvimento econômico, social e cultural.
É preciso distinguir, portanto, entre o tempo subjetivamente experimentado e o tempo objetivamente medido. Em ambos os casos, se trata do tempo para o ser humano, uma vez que sua percepção e medição estão intimamente ligadas à consciência e inteligência do homem.
O tempo medido objetivamente pode ser determinado tanto pelos ritmos biológicos e cósmicos, quanto pelos sistemas de medida concebidos pelo ser humano. O tempo subjetivamente experimentado, no entanto, é determinado pelos eventos que resultam em vida humana pessoal ou social. Qualquer período da vida de uma pessoa é experimentado como “curto” ou “longo”, dependendo se é divertido ou chato, importante ou banal, feliz ou doloroso. Quem não experimenta como intermináveis os dez minutos de espera em uma fila de banco, e como curtíssimos os mesmos dez minutos que compartilhamos com a pessoa amada? Portanto, não é o tempo em si, mas o que acontece nele, que determina a experiência temporal.
1.2 A “humanização” do tempo
O ser humano tenta dominar o fluxo imparável do tempo através de sua medição e sua organização. No entanto, todas as formas de medição de tempo são baseadas em uma concepção prévia dele mesmo; essas concepções são basicamente duas: a cíclica e a linear.
A cíclica, expressa graficamente pelo círculo, é típica das culturas mais arcaicas, já que sua origem está nos ritmos da natureza. Isso explica por que as categorias do ano, do mês e do dia existem em todo o mundo: elas são facilmente apreensíveis na experiência cotidiana.
A forma linear percebe o tempo como um devir permanente, sem a possibilidade de retroceder, representado graficamente por uma linha que sempre avança. Sua medição consiste na segmentação dessa linha em períodos. Nela, adquire uma importância fundamental o objetivo, o “até onde” a linha vai, ou onde termina. A tradição judaico-cristã adere basicamente a esta concepção do tempo.
A alternância do dia e da noite é o padrão mais imediato para medir o tempo. Mas a duração da luz e da escuridão a que estão ligados varia muito de uma região para outra e de uma estação para outra. Assim, a engenhosidade humana inventou instrumentos que medem as horas do dia, independentemente do fator claro-escuro: relógios solares, relógios de água e, finalmente, somente no século XIV, o relógio mecânico. Esse massificou-se no século XIX pela produção em massa de relógios de bolso e de pulso. No início do século XX, o sistema temporal foi universalizado ao se estabelecer o horário de Greenwich (GMT – Greenwich Mean Time) como o padrão de tempo, o que favoreceu a organização do tempo para um mundo cada vez mais globalizado nas áreas da produção, transporte e mobilidade humana.
O mês, por outro lado, é uma unidade complexa. Apesar de ter evidente apoio natural nas fases da lua, é vivenciado como parte de um segmento maior, que é o ano. No entanto, a duração do ciclo solar, que chamamos de ano, não se encaixa com a divisão em meses com base no ciclo lunar. Isto levou a diferentes soluções: o calendário islâmico padronizou o ciclo solar e dividiu o ano em doze meses lunares, de modo que o ano é dez dias mais curto que o ano solar, ou como fez o calendário juliano, que tomou o ciclo solar como base e os doze ciclos lunares foram padronizados.
A semana é diferente do dia, mês e ano, porque não está relacionada a ciclos naturais, exceto nas culturas em que se impôs a semana de sete dias, que é quase um quarto do tempo do ciclo lunar, que tem 29,5 dias.
A semana é de origem cultural. Portanto, nos tempos antigos, era diferente em diversas sociedades. Na Mesopotâmia e em Israel a semana tinha sete dias. Os antigos romanos tinham uma semana de oito dias, os chineses, uma de dez, e em várias culturas da África Ocidental, do Sudeste Asiático e da América Central havia semanas com cerca de três e seis dias. O que era comum em todas elas era o padrão sempre recorrente de certos dias, provavelmente para regular certas atividades repetitivas, como os dias de mercado. Muitas sociedades conheciam, no sistema semanal, um dia de especial alívio, geralmente com fundamento religioso: o shabat do judaísmo, o domingo do cristianismo e a sexta-feira do islamismo.
2 O tempo na experiência cristã
A experiência humana do tempo e sua organização social estão intimamente relacionadas com a consciência religiosa do homem. Em todas as religiões, o tempo desempenha um papel importante, mas a concepção do tempo e o comportamento religioso e cultual em relação a ele, que derivam desse entendimento, são muito variados. A concepção bíblica e litúrgica cristã é apenas uma delas.
2.1 O tempo na Sagrada Escritura
A experiência bíblica do tempo está na base do significado que a liturgia cristã atribui a ela. O Deus cristão é o Deus-homem, o Deus-conosco, o Deus que encarna e assume não apenas a beleza de sua criação e de suas criaturas, mas também suas limitações e condicionamentos. É o Deus que se fez carne, frágil, limitada e corruptível, localizada nas coordenadas fundamentais do tempo e do espaço. Isso determina radicalmente a liturgia, assim como o mistério pascal de Cristo, que representa a superação de todo o condicionamento, também do tempo: o Ressuscitado introduz a humanidade na nova eternidade, em um novo tempo, que aguarda sua segunda vinda, a definitiva.
Na Bíblia predomina uma ideia de tempo que considera o âmbito da ação de Deus e da revelação do desígnio divino na história. É fundamentalmente uma concepção linear do tempo, com a exceção do livro Qohelet, que introduz uma concepção cíclica e fatalista, característica do mundo helênico, cuja cultura dominou a Palestina a partir das conquistas de Alexandre, o Grande, no século IV aC.
Antes de tudo, o tempo é, na Bíblia, a história da salvação. O tempo é a história na qual Deus revela seu projeto salvífico, manifesta sua vontade chamando pessoas concretas, convoca e reúne um povo de sua propriedade, libertando-o permanentemente da escravidão e do pecado, conduzindo-o até o cumprimento de suas promessas.
Essa promessa é plenamente cumprida em Jesus Cristo, a irrupção de Deus na história humana, na encarnação e em sua vida histórica. Esta irrupção, o dia favorável da salvação, não termina com a vida humana de Jesus de Nazaré, mas inaugura a eternidade definitiva, o tempo da plenitude que só aguarda sua consumação na parusia, a vinda definitiva do Cristo glorioso. O conceito de “reino” de Deus, inaugurado por Jesus Cristo, é um conceito temporal e não precisamente geográfico. É equivalente ao “reinado” de Deus, isto é, à instauração de sua soberania. Jesus afirmou que este reinado já estava no meio de seu povo por causa de suas intervenções salvadoras (Lc 11,20). Sua própria irrupção na história já era o começo do reinado, e a ressurreição dos mortos abriu a porta do tempo definitivo, lançando assim a linha para a consumação de sua vinda escatológica.
2.2 O culto como memorial
Nesta ideia de tempo, o culto adquire um significado particular. Os grandes festivais anuais do Antigo Testamento, que em sua origem eram festas da natureza, cíclicas, foram historicizadas. Seu conteúdo original foi substituído por ações salvíficas de Deus na história. As festividades se transformaram em festas memoriais, que recordavam fatos salvíficos do passado. Através de palavras e ações rituais, esses eventos atualizavam (tornavam presente) a salvação de Deus e, ao mesmo tempo, prometiam a salvação definitiva para o futuro.
O ritual tornou-se um sinal memorial do que acontecera em algum momento, uma expressão de fidelidade aos preceitos divinos e um sinal de esperança no cumprimento futuro da promessa de Deus. É a sua fidelidade que atualiza no presente a salvação já realizada e promete para o futuro.
Esta compreensão do tempo e da ação cultual ao longo dele se dá tanto na liturgia da sinagoga como na liturgia da nossa Igreja cristã.
2.3 A compreensão litúrgica do tempo
O tempo é obra de Deus e a Ele pertence, como tudo criado por Ele. Deus existe desde sempre e para sempre, isto é, fora do tempo e não sujeito ao seu domínio. O “tempo” de Deus é chamado eternidade. Ele é autor, criador e senhor do tempo.
No tempo, a vida humana se desenvolve, tomando consciência do devir, fazendo dele história. O cristianismo é uma religião histórica. Também sua liturgia é histórica, num duplo sentido: celebra a história e é celebrada na história.
2.3.1 O objeto da celebração cristã
O quê, precisamente, da história celebra nossa liturgia? O foco principal da liturgia cristã é o mistério pascal de Cristo, isto é, os eventos históricos de sua morte e ressurreição. Eles constituem o ápice e a articulação do tempo cristão. Na liturgia, celebra-se um Deus que, segundo a revelação, não é apenas o criador de tudo o que existe, mas também se manifesta libertando e salvando o homem na história, porque ele mesmo se fez história de salvação.
As intervenções libertadoras de Deus na história da salvação, passada, presente e futura, concentram-se no evento Cristo, no seu mistério pascal. E é precisamente este mistério pascal que a Igreja celebra sempre em todas as liturgias. Como o mistério pascal é a síntese da história da salvação, a liturgia é seu “momento” privilegiado, sua atualização. Ela celebra essa história na medida em que é preenchida pelas intervenções libertadoras de Deus, antes e depois da encarnação. Celebra não só a morte e ressurreição de Cristo, mas toda a sua vida, a terrena, a preexistente e a gloriosa, a sua mensagem e os seus próprios atos salvíficos.
2.3.2 Na história, em direção à plenitude do Reino
A liturgia é celebrada na história. Não é uma ação atemporal, não pretende “superar” o tempo. Não é celebrada de costas, mas imersa na história real, porque atualiza as irrupções salvíficas passadas de Deus na história presente, que é, também ela, a continuação da história da salvação.
A liturgia cristã não pretende, portanto, nem superar nem dominar o tempo, mas, ao contrário, nele, que é o cenário da história da salvação, “renasce” a história real dos seres humanos, submergindo-a no mistério de Cristo para que os crentes celebrem as intervenções libertadoras de Deus como um permanente dia de salvação: o hoje do mistério pascal que se faz presente na vida concreta da Igreja.
2.3.3 Círculo, linha, espiral
Na liturgia, reúnem-se os três tempos que distinguem nossa consciência: o passado, com toda sua riqueza de intervenções de Deus, o presente, com as circunstâncias concretas e determinantes da assembleia que celebra, e o futuro, como meta escatológica que mobiliza a esperança e o compromisso dos cristãos: “Anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição. Venha, Senhor Jesus!”, dizemos na aclamação, após o relato da instituição da eucaristia. A liturgia é celebrada na tensão de uma linha que avança para o encontro definitivo com o Senhor da história.
No tempo litúrgico cristão há uma síntese dos dois grandes sistemas de organização temporal, o cíclico e o linear. Organizado em torno dos ciclos naturais do dia, do mês e do ano e, acima de tudo, como o Concílio Vaticano II enfatizou, em torno do ciclo cultural-religioso da semana de sete dias, com o domingo como o dia principal. O mundo ocidental, influenciado pelo cristianismo, determinou o início de seu calendário, o ano zero, de acordo com o nascimento de Jesus Cristo. Hoje, graças a estudos que corrigiram cálculos do passado, sabemos que o nascimento de Jesus foi, de fato, entre os anos 4 e 7 antes do ano 0.
De acordo com a concepção cíclica, a liturgia cristã é ordenada pelas horas do dia, na sequência semanal marcada pelo domingo, e no ano, que recebe vários nomes: “ano litúrgico”, “ano eclesial”, “ano do Senhor”. Para distribuir a riqueza da Bíblia nas leituras das várias celebrações, organiza-se o tempo litúrgico, desde a reforma do Concílio Vaticano II, num ciclo de três anos: A, B e C. A liturgia das horas organiza os textos bíblicos do ofício de leituras em um ciclo de dois anos, Par e Ímpar. A Igreja universal estabeleceu um ano jubilar a cada 50 anos. Todos esses padrões se repetem circularmente, uma unidade após a outra, sem mudança. Eles representam a continuidade da concepção cíclica no tempo litúrgico.
Ao mesmo tempo, a tensão subjacente do tempo litúrgico é claramente constituída por um entendimento linear: a Igreja, povo de Deus que nasce da Páscoa de Cristo, peregrina em direção ao “fim dos tempos”, à plenitude do Reino de Deus que será definitivamente instalado na segunda vinda de Cristo: a parusia.
Da síntese do círculo e da linha, surge a imagem mais apropriada do tempo da Igreja, que é o tempo litúrgico: a espiral ascendente. Contém tanto o movimento circular, de ciclos que se repetem sem mudança, como o movimento linear da história que avança sem nunca voltar atrás. Cada evolução da espiral ao mesmo tempo repete e renova, volta sobre si mesma e se move em direção ao que nunca foi percorrido antes. O que se repete no ano litúrgico, de fato, nunca se repete como no ciclo anterior, mas sempre em um nível superior, em um contexto novo e diferente, porque o mundo e a humanidade, os cristãos e aqueles que celebram não são os mesmos de um ano antes, e nem mesmo de um mês, de uma semana ou de um dia antes. Embora tudo na liturgia se repita, também é sempre novo, porque o mundo e a humanidade “mudam, tudo muda”.
2.3.4 Ano, mês, dia e hora
Como na sociedade civil, a principal unidade do tempo litúrgico é o “ano”, embora seja um “ano” particular, cujo início e fim não coincidem temporariamente com o ano civil. Seu valor é teológico, e não organizacional. Não é definido como uma mera magnitude temporal, mas como símbolo de uma realidade sobrenatural. Para o cristianismo, é a analogia de uma realidade espiritual muito mais profunda do que os dados cosmológicos de uma virada da Terra ao redor do sol. Tem profundas raízes bíblicas, cristalizadas nas expressões “ano da graça de Yahweh” (Is 61,2), “ano da graça do Senhor” (Lc 4,19), “plenitude dos tempos” (Gl 4,4; Ef 1,10), “Reino dos Céus” (Mt 3,2).
O fundamento cristão do ano é o próprio Senhor Jesus Cristo. O ano da graça do Senhor é o tempo da presença de Cristo que dura para sempre. O ano litúrgico é o símbolo da eternidade definitiva inaugurada por Jesus Cristo com a sua ressurreição e, por essa razão, torna-se um símbolo da vida plena do ressuscitado.
A liturgia, celebrando o mistério pascal de Cristo ao longo dos anos, meses, semanas, dias e horas, pascoaliza o tempo, colocando-o explicitamente na linha da história da salvação. Em outras palavras, o santifica.
No decorrer do dia, a Igreja celebra a eucaristia e a liturgia das horas. Com a liturgia das horas, a Igreja santifica os momentos do começo e do fim do dia – o nascer do sol e seu poente – com as orações das Laudes e das Vésperas, que considera “o duplo eixo sobre o qual se volta o Ofício diário” – e as horas principais, e também o meio-dia ou tempo intermediário, com as horas menores da Terceira, Sexta e Nona. Agrega o ofício de leituras e uma oração breve – as Completas – antes do descanso noturno.
A semana é marcada principalmente pelo domingo, que é a primeira festa dos cristãos, como enfatizou o Vaticano II. O ritmo semanal representa de maneira mais evidente a santificação do tempo litúrgico. A Páscoa semanal é a sequência fundamental do tempo litúrgico cristão.
O ano está claramente organizado no calendário romano, que foi inteiramente reformado pelo Concílio Vaticano II. O conceito bíblico e litúrgico de “ano santo” foi incorporado à Igreja no costume de instituir regularmente, a cada 25 anos, e também por ocasião de algum evento extraordinário, um ano festivo com esse nome.
3 O ano litúrgico cristão
O tempo litúrgico cristão adquiriu forma concreta, como parte da liturgia e como organização concreta das várias celebrações, como um “ano litúrgico”. Isso não se criou ou desenvolveu a partir de teoria, mas foi se formando a partir da prática em celebrar e aprofundar as verdades teológicas dos cristãos de vários lugares. Estabeleceu, desde o início, usos distintos e diferenças, que em parte foram unificados posteriormente para afirmar a comunhão da Igreja e em parte foram mantidos, alguns deles até hoje, como práticas distintas dentro da comunhão eclesial. Por exemplo, as Igrejas Orientais, mesmo aquelas em comunhão com Roma, celebram a Páscoa, a principal festa dos cristãos, em data diferente da católica romana. E a mesma coisa acontece com outras datas e tempos litúrgicos.
Como foi no começo? A partir da eucaristia semanal – os primeiros cristãos celebravam todos os “oitavos días”, que hoje chamamos de domingo (de dominica dies, “dia do Senhor”) – e da páscoa anual (celebração da Páscoa da Ressurreição uma vez por ano ), um rico ciclo de celebrações foi se desenvolvendo ao longo do ano.
As igrejas cristãs dos primeiros séculos, submetidas por longos períodos às perseguições do Império Romano, começaram a venerar seus mártires, que entregavam suas vidas e derramavam seu sangue por causa do evangelho, participando assim, do mistério pascal do Senhor. A recorrência anual da data dessas mortes deu origem ao que chamamos “martirológio”, isto é, a lista de todos os santos que veneramos na liturgia. O martirológio é enriquecido permanentemente por meio da beatificação e canonização de novos homens e mulheres, como aconteceu recentemente com monsenhor Oscar Romero, de El Salvador (canonizado em 14 de outubro de 2018, em Roma).
No quarto século, surgiu a festa do nascimento de Jesus, como consequência lógica da atenção dada a toda sua vida e obra, desde o momento de sua concepção e nascimento. Nos séculos subsequentes, outros eventos na vida de Jesus foram adquirindo o estatuto de festas litúrgicas. No mesmo século, a figura de Maria entrou na liturgia com grande força, na medida em que a teologia e a espiritualidade iam definindo e aprofundando seu papel essencial na história da salvação.
Desde o Concílio de Trento, no século XVI, o ano litúrgico, como toda a liturgia, estava formado em todas as suas estruturas fundamentais, que permaneceram sem mudanças de grande relevância até o Concílio Vaticano II em 1965. O CVII foi precedido por mais de um século de estudos litúrgicos científicos, que pouco a pouco foram questionando uma série de aspectos da liturgia que seriam reformados profundamente a partir da segunda metade do século XX.
4 A reforma do Vaticano II
Desde o Concílio Vaticano II, temos um ano litúrgico muito renovado sobre o passado. O enorme número de festas obrigatórias de santos que foram se acumulando ao longo da história levou gradualmente à perda da centralidade do mistério pascoal de Cristo e da importância do domingo. A consciência da importância fundamental da Sagrada Escritura para a fé e para a catequese da Igreja, tornou necessário repensar a sua presença na liturgia. O mesmo pode ser dito do uso das línguas de cada país ou grupo humano, chave para a compreensão e, acima de tudo, para a participação mais ativa das pessoas na celebração. A participação da assembleia foi uma das principais questões da reforma, que concebeu a liturgia não como uma função sagrada a que os fiéis assistem passivamente, ouvindo e repetindo gestos pré-definidos, mas sim como uma festa do povo de Deus, presidida pelo próprio Cristo em seus ministros, e caracterizada pela participação ativa de toda a assembleia litúrgica, cada qual segundo sua condição e função, e com maior espontaneidade e presença da vida concreta dos fiéis.
Levando em consideração estes e outros aspectos que necessitavam urgentemente de uma reforma, o Concílio renovou a liturgia e o ano litúrgico de maneira profunda. Reavaliou a centralidade do domingo, a celebração da “Páscoa semanal” e o ritmo fundamental do ano litúrgico. Outra grande riqueza da reforma é a presença renovada da Bíblia nas celebrações. Para a eucaristia aos domingos, foi elaborado um ciclo de três anos, no decorrer dos quais foram distribuídas leituras de toda a Bíblia, que permitem às comunidades conhecer os fundamentos da Sagrada Escritura nesse período.
4.1 A atual estrutura do ano litúrgico
A atual organização do ano litúrgico tem “tempos” e celebrações para a Igreja universal. Começa, na Igreja Católica, com as Primeiras Vésperas do Primeiro Domingo do Advento (isto é, no sábado depois da festa de Cristo Rei, à tarde). A data deste dia não é fixa, mas muda ligeiramente todos os anos. Uma vez que há quatro domingos de preparação para o Natal, retrocede-se do último domingo antes de 25 de dezembro para determinar a data do primeiro domingo do Advento. É sempre entre os últimos dias de novembro e os primeiros dias de dezembro. Com o Advento, inicia-se o ciclo de Natal (também chamado de ciclo de Manifestação do Senhor), que continua até a festa do batismo do Senhor, no primeiro domingo depois de 6 de janeiro.
O segundo tempo é o tempo comum, que inicia após a festa do batismo de Jesus e se estende até o início de Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa da ressurreição. Nem mesmo essa data é fixa, pois é determinada pela data da Páscoa, estabelecida com base no calendário lunar, e não no solar: a Páscoa é sempre no primeiro domingo que se segue à lua cheia, após o equinócio da primavera. Oscila entre 22 de março e 25 de abril.
Começa então o ciclo pascal, que é constituído pela Quaresma, pela Semana Santa e a Páscoa, culminando com a solenidade de Pentecostes.
Na segunda-feira após o Pentecostes, o tempo comum é retomado e dura até o sábado posterior à solenidade de Cristo Rei. O tempo comum tem 33 ou 34 semanas e é o mais longo do ano litúrgico. Com as primeiras Vésperas no domingo posterior a essa festa, um novo ano litúrgico começa.
4.1.1 O ciclo ou tempo de Natal
Este ciclo ou tempo, o segundo em importância do ano litúrgico, é também chamado de “ciclo da manifestação do Senhor”, porque celebramos Cristo que se revela a nós em suas manifestações na história humana. É organizado em torno da segunda grande festa do Senhor, o Natal, que celebra seu nascimento em Belém.
A “encarnação” de Deus, o fazer-se “carne” ou pessoa humana, é a condição necessária para que historicamente possa viver e morrer. O mistério pascal foi possível porque Deus se tornou humano. Este ciclo inicia o ano litúrgico da Igreja, o primeiro domingo do Advento. Seus principais momentos são:
– os quatro domingos do Advento, que constituem a preparação para o Natal e nos sensibilizam para a esperança da vinda definitiva do Senhor;
– o Natal, festa do nascimento de Jesus Cristo em Belém;
– a Oitava do Natal, semelhante à da Páscoa, que continua a festa durante uma semana inteira; ela inaugura o “tempo de Natal”, que dura até o começo do tempo comum;
– a festa da Sagrada Família, no domingo depois do Natal;
– o dia da Oitava, 1º de janeiro e início do ano civil em grande parte do mundo, celebrando a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus;
– a Epifania, em 6 de janeiro ou no segundo domingo após o Natal, que recorda a manifestação do recém-nascido a todas as nações, representadas nos magos do oriente;
– o batismo do Senhor, no domingo depois da Epifania, que faz memória do início do seu ministério messiânico, manifestando-se assim ao seu povo, Israel. Com esta festa, o “tempo de Natal” termina e a primeira semana do “tempo comum” começa.
4.1.2 O ciclo ou tempo pascal
O ciclo, ou tempo, da Páscoa é o mais importante do ano litúrgico, porque no seu centro está a principal festa cristã, a Páscoa da Ressurreição. O ciclo começa na Quarta-feira de Cinzas, com a Quaresma, um tempo de conversão e reflexão que dura 40 dias e está orientado para a preparação da Páscoa. No final da Quaresma, vem a Semana Santa, a mais intensa do ano litúrgico, cujos dias mais importantes são:
– Domingo de Ramos, quando se inicia e comemora a entrada de Jesus em Jerusalém antes de morrer e ressuscitar;
– Quinta-feira Santa, em que se celebra a “missa crismal” do bispo com todos os seus colaboradores no ministério (sacerdotes e diáconos) e os óleos são benzidos para os batismos, confirmações, unções dos enfermos e ordenações do ano (existem dioceses em que esta missa é transferida para outro dia da Semana Santa); e, na noite da Quinta-feira Santa, a Ceia do Senhor em que celebramos a instituição da eucaristia e o sacerdócio ordenado;
– Sexta-Feira Santa, o dia em que lembramos a morte do Senhor; é o único dia do ano em que a eucaristia não é celebrada (por isso comungamos com as hóstias consagradas na Quinta-feira Santa);
– Sábado Santo, que culmina, à noite, com a vigília pascal;
– e a celebração dominical da ressurreição.
A celebração da ressurreição prolonga-se na Oitava da Páscoa, até o domingo seguinte, como “um único dia de festa”. Continua, além disso, para todo o quinquagésimo pascal ou período pascal, que são os cinquenta dias que culminam com a festa do Espírito Santo, Pentecostes. No 40º dia é celebrada a Festa da Ascensão do Senhor, que em muitos países é transferida para o domingo seguinte, que é aquele antes de Pentecostes.
4.1.3 O tempo comum
Em todo o tempo que fica fora dos dois grandes ciclos anteriores, cuja duração é de 33 ou 34 semanas, nenhum aspecto particular do mistério pascal é celebrado, a não ser o mistério de Cristo e de sua Igreja como um todo. Os domingos são seus principais dias; a cada sete dias acontece a festa da ressurreição para os cristãos. Uma parte menor destes domingos, entre 5 e 9, se encontra depois do ciclo da manifestação, a partir da festa do batismo do Senhor, e os restantes, depois do domingo de Pentecostes, até o sábado anterior ao primeiro domingo do Advento.
Quanto à leitura do evangelho, o evangelista Lucas foi designado para o ano A, os evangelistas Marcos e João para o ano B, e o evangelista Mateus para o ano C. A cada três anos, o ciclo recomeça, dando-nos a possibilidade de uma nova passagem pelos livros e textos mais importantes para a nossa fé. No tempo comum, os domingos e os dias da semana são a razão da celebração, especialmente o lecionário. Com as leituras dos anos A, B e C se dá sua unidade, que não é cortada por estar dividida em duas partes.
4.1.4 Outras festas do ano litúrgico
No tempo comum, a Igreja coloca uma série de outras festividades importantes, entre as quais se destacam muitas festas da Virgem e dos santos, embora essas também estejam distribuídas ao longo do ano, podendo estar nos ciclos da manifestação e da Páscoa. Os eventos mais importantes são os seguintes.
Em relação a Jesus Cristo: apresentação do Senhor (2 de fevereiro, na verdade, entra no complexo das festividades da manifestação); Exaltação da Cruz (14 de setembro ou 3 de maio); Santíssima Trindade (domingo após o Pentecostes; celebra o Pai, o Filho e o Espírito Santo); Corpus Christi (Corpo e Sangue de Cristo; segunda quinta-feira após Pentecostes); Sagrado Coração de Jesus (terceira sexta-feira após Pentecostes); Transfiguração do Senhor (6 de agosto); Cristo Rei (último domingo do ano litúrgico, isto é, antes do primeiro dia do Advento).
Em relação à Virgem Maria: Anunciação do Senhor (25 de março: nove meses antes do nascimento); Assunção de Maria (15 de agosto); Imaculada Conceição (8 de dezembro); Imaculado Coração de Maria (terceiro sábado após Pentecostes); e muitas invocações especiais, como Nossa Senhora de Lourdes (11 de fevereiro), Nossa Senhora de Fátima (13 de maio), e, especialmente na América Latina, o continente mariano por excelencia, cujos países veneram a Virgem Maria como padroeira em várias invocações: Nossa Senhora de Guadalupe (padroeira da América Latina, 12 de dezembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Virgem de Luján (8 de maio), Nossa Senhora do Carmo (16 de julho) e muitas outras.
Em relação aos santos: Todos os santos (1º de novembro), São José (19 de março) e São José Operário (1º de maio), São João Batista (24 de junho), São Pedro e São Paulo (29 de junho) e outros próprios de cada país. O grande número de homens e mulheres que foram canonizados desde o pontificado de São João Paulo II deve-se ao desejo de enriquecer os calendários particulares com santos e santas locais, além daqueles do calendário universal.
Há ainda muitas outras festas da Virgem Maria e dos santos. Frequentemente estão mais ligadas à devoção pessoal ou a algumas regiões. Por sua importância para muitos católicos, devemos lembrar também a comemoração de Todos os mortos (2 de novembro), um dia de grande afluência aos cemitérios.
A comunhão não é uniformidade, mas unidade na riqueza da diversidade. Por esta razão, o ano litúrgico se torna local em cada Igreja particular, através de celebrações e festas próprias.
As celebrações têm suas próprias cores, que são usadas em vestes litúrgicas e outros signos/símbolos do espaço da celebração: verde para o tempo comum, tanto nos domingos como em festas e dias da semana; vermelho para o Domingo de Ramos, Sexta-Feira Santa e as festas dos apóstolos e mártires; roxo para o Advento, a Quaresma e as celebrações dos falecidos; e branco para a Páscoa, o Natal e as outras solenidades e festas de Cristo e da Virgem Maria. Em vários lugares, a cor azul foi popularizada pelas festas da Virgem. O significado das cores é convencional, pode mudar de cultura para cultura: vermelho para paixão, apóstolos e mártires que deram seu sangue, como Jesus Cristo, pelo evangelho. Branco, a cor por excelência de santidade e pureza, para as grandes solenidades do ano e para as festas da Virgem. Púrpura, cor originalmente penitencial, de recordação e conversão, para os tempos de preparação e para as celebrações da morte dos cristãos. Verde, a cor mais comum, para o tempo normal.
4.2 O tempo litúrgico como mistagogia da Igreja
O ano litúrgico não é uma mera organização das celebrações litúrgicas da Igreja no tempo. Muito mais do que uma estrutura simples, é na verdade uma mistagogia da Igreja, isto é, um itinerário formativo que introduz o mistério de Cristo e conduz para um aprofundamento cada vez maior do evangelho e de toda a doutrina cristã e, portanto, a um crescimento no compromisso dos fiéis com sua fé.
Comemora-se toda a riqueza do mistério de Cristo: seu nascimento, sua vida, sua paixão, morte e ressurreição, suas palavras e atos, sua Mãe Maria, os efeitos de sua mensagem sobre tantas testemunhas e mártires a partir das leituras bíblicas, a riqueza e a beleza dos textos litúrgicos elaborados pela Igreja, a experiência de celebrar em comunidade e participar ativamente de celebrações, de cantar e dialogar em ambientes fraternos, de experimentar os desafios a que o Senhor nos chama da celebração da fé; tudo isso é um caminho único de crescimento e aprofundamento da vida cristã para todos os fiéis.
Viver conscientemente o desenvolvimento do ano litúrgico, não só por um ano, mas pelos três anos do ciclo dominical, nos permite percorrer os fundamentos da revelação cristã através das leituras bíblicas, e também ajuda a gerar, na Igreja, a autêntica comunhão na diversidade e, em cada cristão, a consciência de uma fé e um compromisso que não são estáticos. São autênticas “histórias da salvação” vividas na evolução do tempo, sempre desafiadas a uma maior fidelidade ao evangelho e sempre atraídas pela esperança do Reino, ápice do tempo e do ano litúrgico.
Guillermo Rosas. Pontifícia Universidad Católica de Chile. Texto original em espanhol.
Referências
CALENDARIO ROMANO GENERAL, 1969. Também a edição que contém o Missal Romano, 3ª edição típica, 2002.
CALENDARIA PARTICULARIA, Instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto divino, 24 junio 1970.
PAULO VI. Msterii Paschalis, Motu proprio, 1969.
BERGAMINI, Augusto. Verbete Año litúrgico. In: Nuevo diccionario de liturgia. Madrid: Paulinas, 1987, p. 136-144.
CASTELLANO, Jesús. El año litúrgico. Memorial de Cristo y mistagogía de la Iglesia. Barcelona: Biblioteca litúrgica 1, Centre de Pastoral litúrgica, 1994.
DALMAIS I. H. El tiempo en la liturgia. In: MARTIMORT, A. G. La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia. Nueva edición actualizada y aumentada, parte IV. Barcelona: Herder, 1987, p.889-895.
GOÑI, José Antonio. Historia del año litúrgico y del calendario romano, Biblioteca litúrgica 40. Barcelona: Centre de Pastoral litúrgica, 2010.
LÓPEZ MARTÍN, Julián. La voz: Calendario litúrgico. In: Nuevo diccionario de liturgia. Madrid: Paulinas, 1987, p.258-264.
ROSAS, Guillermo. El año litúrgico. In: CELAM. Manual de Liturgia, v. IV: La celebración del misterio pascual. Otras expresiones celebrativas del misterio pascual y la liturgia en la vida de la Iglesia. Bogotá: CELAM, 2002, p.19-58.
_____. El hoy de la salvación en la liturgia. Revista Medellín, v.XXIX, n.116, CELAM-ITEPAL, p.699-718, diciembre 2003.
______. El tiempo en la liturgia. In: CELAM. Manual de Liturgia, v. III: La celebración del misterio pascual. Fundamentos teológicos y elementos constitutivos. Bogotá: CELAM, 2003, p.545-57.
TRIACCA A. M. Verbete: Tiempo y liturgia. In: Nuevo diccionario de liturgia. Madrid: Paulinas, 1987.