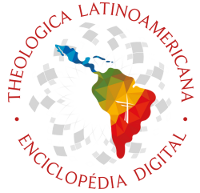XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
All posts by Geraldo Mori
Autocomunicação de Deus
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arte cristiana
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arte Cristã
Sumário
Introdução
1 A arte na vida humana
2 A arte cristã (aspectos históricos)
3 A arte cristã na esteira do Concílio Vaticano II
Referências
Falar de arte não é tarefa fácil. Mesmo restrita ao âmbito da “Arte cristã”, a empreitada não deixa de ser desafiadora, dada a amplitude e a complexidade do tema em si. Nossa proposta é modesta. Limitamo-nos a tecer alguns apontamentos em torno da relação arte-liturgia e vice-versa, a partir de três pontos: a arte na vida humana; a arte cristã (aspectos históricos); a arte cristã na esteira do Concílio Vaticano II.
1 A arte na vida humana
Pode-se afirmar que, desde tempos muito remotos, a arte está intimamente ligada à vida humana. Ela se expressa sob diferentes formas de linguagem: visuais (pintura, desenho, gravura…), musicais (ritmo, melodia, harmonia…), performáticas (dança, teatro, mágica, mímica…) etc. Aliás, há uma relação, quase que simbiótica, do ser humano com a arte:
O ser humano sempre necessitará da arte para resolver essa sua limitação natural para encontrar aquela parte do real e de si mesmo que sua imaginação lhe diz ainda não ter sido conhecida. A função da arte é recriar para a experiência de cada indivíduo a plenitude daquilo que ele não é, isto é, a experiência da humanidade em geral. E ela o faz de maneira mágica e lúdica, mostrando a realidade como algo que pode ser transformado, dominado, manipulado como um brinquedo. […] O nosso “eu” limitado sofre uma ampliação maravilhosa pela experiência de uma obra de arte. E muitas vezes, nesse processo de identificação, deixamos de ser meras testemunhas da criação e passamos a ser também um pouco criadores daquelas obras que estendem os nossos horizontes e nos elevam acima da superfície a que estamos pegados (CARMO, 2021).
A arte também ocupa lugar privilegiado no âmbito religioso. Ela é parte integrante de ações simbólico-rituais, próprias de cada cultura. No cristianismo, por exemplo, houve uma amistosa interatividade entre arte e liturgia.
No caso típico europeu, acabou por ser o cristianismo o principal contexto dessa relação, com a notável elaboração de arte para a liturgia, num serviço que chega à fusão quase completa: as grandes obras de arquitetura, da pintura, da poesia, da música foram, em grande parte, obras para a liturgia, o que pressupunha na sua própria elaboração – e também na recepção e configuração — a sua integração ritual (DUQUE, 2018, p. 26).
O papa João Paulo II, na célebre Carta aos artistas, nos recorda que a arte de inspiração cristã começou em surdina, ditada pela necessidade que os crentes tinham de elaborar sinais para exprimir, com base na Escritura, os mistérios da fé e, simultaneamente, de arranjar um “código simbólico” para se reconhecerem e identificarem, especialmente nos tempos difíceis das perseguições. A título de exemplo, ele cita os “primeiros vestígios de uma arte pictórica e plástica: o peixe, os pães, o pastor” (JOÃO PAULO II, 1999, n. 7). Não por acaso, tais imagens ilustravam paredes dos lugares onde os primeiros cristãos se reuniam para celebrar o memorial da Páscoa de Cristo (a liturgia). Assim como toda arte, essa “arte cristã” é portadora de densidade simbólica, capaz de expressar e atingir o ser humano em sua totalidade, constituindo, assim, numa espécie de suporte e veículo nos quais estão presentes capacidades cognitivas, visões de mundo, crenças, imaginação, história, afetividade, técnica, corporeidade, espiritualidade, fé. E mais:
É linguagem simbólica, interpretativa, e interpelativa de cuja força o ser humano pode emergir como hermeneuta de si, do mundo, das coisas que ultrapassam ao que pode ser diretamente apreensível pelos sentidos ou codificado na frieza da objetividade puramente racional expressa em aparato lógico conceitual (VILHENA, M. A., 2015, p. 36).
Essas (e outras possíveis) dimensões que encerram a linguagem simbólica se aplicam à ação litúrgica. Graças à “arte” do rito, os fiéis têm livre acesso àquela “beleza tão antiga e tão nova” que é o mistério do próprio Deus, revelado em Jesus Cristo.
2 A arte cristã (aspectos históricos)
Conforme aludido na introdução deste texto, também aqui a abordagem se limitará a alguns apontamentos de caráter geral, tendo como base a relação arte-liturgia e vice-versa.
a) No primeiro milênio
A partir do edito de Constantino (ano 313), a arte tornou-se um canal privilegiado de manifestação da fé. No âmbito da arquitetura, aqueles simples espaços (“Igreja das casas”) onde os cristãos se reuniam para as celebrações litúrgicas foram, gradativamente, substituídos por suntuosas basílicas (“casas da Igreja”), à moda das basílicas imperiais.
Esse modelo foi escolhido pela sua praticidade: a abside configurou-se como lugar perfeito para a cátedra do bispo e para o banco semicircular do presbitério; no começo da nave principal, instalou-se o bema com o ambão e, em Roma, o altar foi colocado nas imediações da abside, entre o clero e o povo (SILVA, J. P., 2022, p. 132).
Nesses amplos espaços, desenvolveram-se, de forma concomitante, as artes pictóricas, esculturais e musicais. No limiar do século VIII, a liturgia romana atingira sua forma plena, devidamente compilada em livros litúrgicos (sacramentários, lecionários, antifonários…). O “Canto gregoriano”, por sua vez, também se encontrava plenamente estruturado e, assim como toda a liturgia romana, é exportado para o império franco-germânico. Esse canto, com o passar dos séculos, se tornará a expressão musical típica da fé da Igreja, celebrada nas ações litúrgicas. Se, por um lado, há de se admirar a beleza desses templos, com sua música altamente sofisticada, por outro, esse novo formato (“casas da Igreja”) favoreceu o clericalismo e o distanciamento progressivo dos fiéis leigos, no que tange à participação na ação litúrgica.
No âmbito do império bizantino, entre os séculos VIII e IX, a Igreja teve de lutar contra alguns imperadores e bispos que apoiaram o chamado “movimento iconoclasta”. Esse movimento repudiava o uso e a veneração de imagens (ícones). Foi um período conturbado e até de violência extrema, incluindo exílios, prisões, torturas e mortes. Apoiados em textos do Antigo Testamento e em “ideologias” surgidas no judaísmo e islamismo de então, os iconoclastas rechaçavam qualquer representação imagética de Cristo, da Virgem Maria e dos santos. Na opinião deles, isso configurava idolatria. Os iconoclastas chegaram à inusitada conclusão de que o único ícone de Cristo é a eucaristia (espécies eucarísticas); também repudiavam a veneração de relíquias dos santos.
Diversos sínodos e até concílios discutiram esse tema. O mais notável foi o Concílio Ecumênico de Niceia II, em 789. Nele, estabeleceu-se a legitimidade das imagens e de seu culto, graças ao auxílio de sólidos argumentos teológicos. O eixo axial dessa teologia foi o mistério da Encarnação do Verbo. João Paulo II, na Carta Apostólica Duodecimum Saeculum — por ocasião do XII centenário do referido Concílio —, assim se expressa:
A iconografia de Cristo implica, portanto, toda a fé na realidade da Encarnação e no seu significado inexaurível para a Igreja e para o mundo. Se a Igreja costuma pô-la em prática, fá-lo porque está convencida que o Deus revelado em Jesus Cristo resgatou realmente e santificou a carne e o inteiro mundo sensível, ou seja, o homem com os seus cinco sentidos, a fim de lhe permitir renovar-se constantemente “à imagem d’Aquele que o criou” (Cl 3,10). (JOÃO PAULO II, 1987, n. 9).
Reconhecendo a importância da arte iconográfica, bem como sua redescoberta em tempos atuais, o então Papa encoraja os fiéis a uma efetiva veneração dessa arte milenar, nestes termos:
A redescoberta do ícone cristão ajudará também a tomar consciência da urgência de reagir contra os efeitos despersonalizadores, e às vezes degradantes, das múltiplas imagens que condicionam a nossa vida, na publicidade e nos “mass-media”; trata-se de fato de uma imagem que faz chegar até nós o olhar de um Outro invisível e que nos dá acesso à realidade do mundo espiritual e escatológico (JOÃO PAULO II, 1987, n. 11).
b) No segundo milênio
No segundo milênio, a arte cristã, sobretudo no Ocidente, se expandiu de forma vertiginosa. No âmbito da arquitetura, emergiram estilos marcantes nos edifícios das igrejas e abadias como, por exemplo, o românico, o gótico, o clássico, o barroco. A pintura e a escultura atingiram elevados graus de perfeição técnica e estética, a ponto de não mais necessitar, a priori, dos espaços sagrados e de sua vinculação com a fé. A “música sacra” — que se limitava, basicamente, ao canto monódico, de uso exclusivo nas ações litúrgicas —, aos poucos, ganhou formas e contornos diversos. Ao lado do “cantochão” (monódico), desenvolveram-se sofisticados tecidos polifônicos (de duas ou mais vozes), além do uso, cada vez mais frequente, de instrumentos musicais. Tudo isso contribuiu para que essa música ultrapassasse os limites do âmbito litúrgico. Não por acaso, a “Missa” (Kyrie, Glória, Credo, Sanctus-Benedictus, Agnus Dei) se converteu numa espécie de forma musical, ao lado da suíte, da sonata, da sinfonia etc., e passou a ser executada também em teatros. Ao longo do segundo milênio, destacaram-se grandes nomes, como: Palestrina, Orlando de Lasso, Victoria (polifonia clássica); Haendel, Bach, Vivaldi (barroco); Haydn, Mozart (classicismo); Beethoven, Schubert, Berlioz, Listz, Verdi (romantismo).
Ao contrário do Ocidente, a arte cristã oriental não se deixou “contaminar” por pensamentos e/ou ideologias estéticas, surgidas fora do âmbito eclesial. A arte iconográfica, por exemplo, manteve-se fiel aos cânones teológico-litúrgico-espirituais, elaborados pela ortodoxia bizantina. O critério basilar dessa arte é a não reprodução da natureza como tal (naturalismo/realismo), mas a representação de uma imagem transfigurada pela interioridade espiritual. No ícone, tudo é prenhe de simbolismo: cores, vestes, expressões corporais (mãos, rosto, olhos, nariz, ouvidos, boca…), ou seja, nada é subjetivo. “O ícone, visto com os olhos do coração iluminados pela fé, nos abre para a realidade invisível, para o mundo do Espírito, para a economia divina, para o mistério cristão na sua totalidade ultraterrena. É lugar teológico, antes, ‘teologia visual’” (DONADEO, 1996, p. 20). Também a “música sacra bizantina” manteve, ao longo dos séculos, suas principais características, a saber: é essencialmente vocal e monofônica; é modal (estruturada nos oito modos gregos); privilegia o sentido teológico-litúrgico do texto e/ou palavras.
3 A arte cristã na esteira do Concílio Vaticano II
A breve mensagem do papa Paulo VI, dirigida aos artistas, por ocasião do encerramento do Concílio Vaticano II, resume, de forma magistral, a empatia pelo diálogo entre Igreja e cultura, com reflexos imediatos no campo da arte e a consequente reverência aos seus artífices:
Para todos vós, artistas, que sois prisioneiros da beleza e que trabalhais para ela: poetas e letrados, pintores, escultores, arquitetos, músicos, homens do teatro, cineastas […].
Desde há muito que a Igreja se aliou convosco. Vós tendes edificado e decorado os seus templos, celebrado os seus dogmas, enriquecido a sua Liturgia. Tendes ajudado a Igreja a traduzir a sua divina mensagem na linguagem das formas e das figuras, a tornar perceptível o mundo invisível.
Hoje como ontem, a Igreja tem necessidade de vós e volta-se para vós. E diz-vos pela nossa voz: não permitais que se rompa uma aliança entre todas fecunda. Não vos recuseis a colocar o vosso talento ao serviço da verdade divina. Não fecheis o vosso espírito ao sopro do Espírito Santo.
O mundo em que vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens, é este fruto precioso que resiste ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na admiração. E isto por vossas mãos.
Que estas mãos sejam puras e desinteressadas. Lembrai-vos de que sois os guardiões da beleza no mundo: que isso baste para vos afastar dos gostos efêmeros e sem valor autêntico, para vos libertar da procura de expressões estranhas ou indecorosas.
Sede sempre e em toda a parte dignos do vosso ideal, e sereis dignos da Igreja, que, pela nossa voz, vos dirige neste dia a sua mensagem de amizade, de salvação, de graça e de bênção.
Essa mensagem deve, necessariamente, ser lida à luz das Constituições e Decretos do próprio Concílio, sobretudo as Constituições Gaudium et Spes (GS) e Sacrosanctum Concilium (SC), e o Decreto Inter Mirifica (IM).
Na Gaudium et Spes, por exemplo se diz:
A literatura e as artes são também, segundo a maneira que lhes é própria, de grande importância para a vida da Igreja. Procuram elas dar expressão à natureza do homem, aos seus problemas e à experiência das suas tentativas para conhecer-se e aperfeiçoar-se a si mesmo e ao mundo; e tentam identificar a sua situação na história e no universo, dar a conhecer as suas misérias e alegrias, necessidades e energias, e desvendar um futuro melhor. Conseguem assim elevar a vida humana, que exprimem sob muito diferentes formas, segundo os tempos e lugares.
Por conseguinte, deve-se trabalhar para que os artistas sintam-se compreendidos, na sua atividade, pela Igreja e que, gozando de uma conveniente liberdade, tenham mais facilidade de contatos com a comunidade cristã. A Igreja deve também reconhecer as novas formas artísticas, que, segundo o gênio próprio das várias nações e regiões, se adaptam às exigências dos nossos contemporâneos. Sejam admitidas nos templos quando, com linguagem conveniente e conforme as exigências litúrgicas, levantam o espírito a Deus (GS, n. 62).
Por sua vez, a Sacrosanctum Concilium afirma:
Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão, de pleno direito, e muito especialmente a arte religiosa e o seu mais alto cimo, que é a arte sacra. Elas tendem, por natureza, a exprimir de algum modo, nas obras saídas das mãos do homem, a infinita beleza de Deus, e estarão mais orientadas para o louvor e glória de Deus se não tiverem outro fim senão o de conduzir piamente e o mais eficazmente possível, através das suas obras, o espírito do homem até Deus.
É esta a razão por que a santa mãe Igreja amou sempre as belas artes, formou artistas e nunca deixou de procurar o contributo delas, procurando que os objetos atinentes ao culto fossem dignos, decorosos e belos, verdadeiros sinais e símbolos do sobrenatural. A Igreja julgou-se sempre no direito de ser como que o seu árbitro, escolhendo entre as obras dos artistas as que estavam de acordo com a fé, a piedade e as orientações veneráveis da tradição e que melhor pudessem servir ao culto […].
A Igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas aceitou os estilos de todas as épocas, segundo a índole e condição dos povos e as exigências dos vários ritos, criando deste modo, no decorrer dos séculos, um tesouro artístico que deve ser conservado cuidadosamente. Seja também cultivada livremente na Igreja a arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e regiões, desde que sirva com a devida reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e ritos sagrados. Assim poderá ela unir a sua voz ao admirável cântico de glória que grandes homens elevaram à fé católica em séculos passados (SC, n. 122-123).
A Inter Mirifica, enfim, afirma:
Uma segunda questão se põe sobre as relações que medeiam entre os chamados direitos da arte e as normas da lei moral. Dado que, não raras vezes, as controvérsias que surgem sobre esse tema têm a sua origem em falsas doutrinas sobre ética e estética, o Concílio proclama que a primazia da ordem moral objetiva há de ser aceita por todos, porque é a única que supera e coerentemente ordena todas as demais ordens humanas, por mais dignas que sejam, sem excluir a arte. Na realidade, só a ordem moral atinge, em toda a sua natureza, o homem, criatura racional de Deus e chamado ao sobrenatural; quando tal ordem moral se observa íntegra e fielmente, condu-lo à perfeição e bem-aventurança plena (IM, n. 6).
Essa amostra de textos conciliares deixa entrever que a Igreja sempre demonstrou apreço pela arte e seus artífices. Não por acaso, João Paulo II, na mencionada Carta aos artistas, afirmou categoricamente que a Igreja tem necessidade da arte para transmitir a mensagem que Cristo lhe confiou, pois ela (a arte) torna perceptível o mundo do espírito, do invisível, de Deus. E conclui dizendo: “A arte possui uma capacidade muito própria de captar os diversos aspectos da mensagem, traduzindo-os em cores, formas, sons que estimulam a intuição de quem os vê e ouve” (JOÃO PAULO II, 1999, n. 12). Vale ressaltar, em contrapartida, que essa atitude de reverência da parte da Igreja não a isenta da constante vigilância de se exercer um juízo crítico, frente a determinadas expressões artísticas que possam legitimar posturas antiéticas, contrárias ao Evangelho, como a injustiça, a xenofobia, a discriminação sexual, a exclusão social etc.
A Igreja do Ocidente não elegeu um estilo específico de arte para si, mas aceitou estilos de diversas épocas. As Sagradas Escrituras e a Liturgia desempenharam papel decisivo no processo de discernimento quanto ao que se deve acatar ou rejeitar. Mais do que nunca, esse princípio milenar se impõe nos tempos atuais, marcados pela pluralidade de estilos e experimentos, por vezes carregados de excessivas doses de um “subjetivismo personalista”, que ostenta formas individualizadas, surpreendentes, herméticas e até ofensivas à fé cristã. Juan Plazaola acrescenta a tal subjetivismo outras características da sensibilidade artística contemporânea, a saber (cf. PLAZAOLA, 2006, p. 22-31):
a) O essencialismo: Busca pelo essencial. Uma reação contrária a expressões artísticas do passado, caracterizadas pelo excesso de detalhes e adereços. O desafio consiste na manutenção do justo equilíbrio estético, para não se descambar no minimalismo;
b) A sinceridade: Rejeição a simulacros. Preferência por elementos reais e não fictícios, como, por exemplo, a utilização de materiais falsos que imitem pedra, madeira, luz etc. Essa “sinceridade”, no labor criador, é fundamental para a arte vinculada ao culto cristão.
c) Um funcionalismo moderado: À beleza estética se busca agregar a funcionalidade (sagrada) da arte. Aqui, um desafio se impõe, sobretudo no âmbito da arquitetura: não se deixar levar pela onda do mero “conforto”, reduzindo o “funcionalismo” a algo meramente estético-prático.
d) A economia e sobriedade: Quando aplicada diretamente à arte cristã, esta característica coincide com a recomendação dada pelo Concílio Vaticano: “Cuidem os Ordinários que, promovendo e incentivando a arte verdadeiramente sacra, visem antes à nobre beleza que à mera suntuosidade. O que se há de entender também das vestes sagradas e dos ornamentos” (SC, n. 124). Contudo, vale o alerta de que essa “nobre simplicidade” não deva ser confundida com o artificial e banal.
e) A pureza: Esta característica possui estreita relação com a anterior. “Pureza”, aqui, não significa “frieza”, “cerebralismo”…, muito comuns em movimentos artísticos do século XX como, por exemplo, o cubismo.
Pureza é respeitar a auréola sagrada que as coisas intactas criadas por Deus parecem irradiar. […] Felizmente, parece que hoje estamos recuperando, no Ocidente, o “dom da atenção” frente aos objetos elementares e puros da Criação. E nas coisas criadas por mãos humanas, preferimos também a simplicidade e a integralidade (PLAZAOLA, 2006, p. 29).
Em suma, todo e qualquer juízo emitido sobre a arte e seus artífices é, até certo ponto, incompleto e parcial. O “mistério” da arte não permite enquadrá-la em categorias por vezes subjetivas e reducionistas. A propósito dessa questão, J. Plazaola pondera:
A história prova que as obras de arte sacra que sobrevivem e que continuam deleitando e inspirando, ao longo dos séculos posteriores, são precisamente as que revelam não só aspectos universais da natureza humana, os atributos da divindade e da santidade, mas também a autêntica forma de ser e as exigências espirituais de seu tempo. E essa fidelidade ao espírito de uma época não é incompatível com a “perdurabilidade” da obra (PLAZAOLA, 2006, p. 21).
À luz da fé, toda expressão artística — sobretudo aquela que enaltece a dignidade humana e a beleza da obra do Criador — manifesta o mistério de Deus: “Com amorosa condescendência, o Artista divino transmite uma centelha de sua sabedoria transcendente ao artista humano, chamando-o a partilhar seu poder criador” (JOÃO PAULO II, 1999, n. 1).
Joaquim Fonseca, OFM. ISTA, FAJE. Texto enviado no dia 30/9/2023; aprovado dia 30/11/2023; postado dia 31/12/2023. Texto original português.
Referências
CARMO, G. E. do. Segundo Fischer, para que o ser humano necessita da arte?. Disponível em: https://suburbanodigital.blogspot.com/search?q=fischer. Acesso em: 14 fev. 2023.
CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral “Gaudium et Spes” sobre a Igreja no mundo atual. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_po.html. Acesso em: 24 fev. 2023.
CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar “Sacrosanctum Concilium” sobre a Sagrada Liturgia. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html. Acesso em: 24 fev. 2023.
CONCÍLIO VATICANO II. Decreto “Inter Mirifica” sobre os meios de comunicação social. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19631204_inter-mirifica_po.html. Acesso em: 24 fev. 2023.
DONADEO, M. Os ícones; imagens do invisível. São Paulo: Paulinas, 1996.
DUQUE, J. M. Ritualidade da arte: performatividade da memória. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6583601.pdf, jan./abr. 2018. Acesso em: 15 fev. 2023.
GATTI, V. Arte. In: SARTORE, D.; TRIACCA, A. (Orgs.). Dicionário de liturgia. São Paulo: Paulus, 1992. p. 87-94.
JOÃO PAULO II. Carta do papa João Paulo II aos artistas. S. Paulo: Loyola, 1999.
JOÃO PAULO II. Carta apostólica Duodecimum saeculum do sumo pontífice João Paulo II ao episcopado da Igreja católica sobre a veneração das imagens por ocasião do XII centenário do II Concílio de Niceia. Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/1987/documents/hf_jp-ii_apl_19871204_duodecimum-saeculum.html. Acesso em: 20 fev. 2023.
PAULO VI. Mensagem do papa Paulo VI na conclusão do Concílio Vaticano II aos artistas. Disponível em: https://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-artisti.html. Acesso em: 24 fev. 2023.
PLAZAOLA, J. Historia del arte Cristiano. Madrid: BAC, 2001.
PLAZAOLA, J. Arte sacro actual. Madrid: BAC, 2006.
SILVA, J. P. A eclesiologia emergente da eucologia do Rito de Dedicação de Igreja e Altar de 1977. In: PARANHOS, W. (org.). Liturgia e eclesiologia; fragilidade e força da Igreja que celebra. São Paulo: Paulinas, 2022. p. 125-160.
USPENSKY, L. Teología del icono. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2013.
VILHENA, M. A. Arte. In: PASSOS, J. D.; SANCHEZ, W. L. (Orgs.) Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus / Paulinas, 2015. p. 32-37.
La conferencia de religiosos de Brasil
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A Conferência dos Religiosos(as) do Brasil (CRB)
A Conferência dos Religiosos(as) do Brasil (CRB)
No dia 11 de fevereiro de 2024, a CRB completa 70 anos, jubileu de vinho, produzido com uvas de melhor qualidade, o mosaico da Vida Religiosa Consagrada presente no Brasil (VRC). A narrativa dos fatos que alimentaram todos esses anos e que iluminam o futuro estão inseridos, como bem disse a Ir. Maria Carmelita de Freitas, “na situação sócio-política do país, quanto do ponto de vista da Igreja na sua autocompreensão e no exercício de sua missão evangelizadora” (Convergência, Jul/Ag 1986, ano XXI, p. 353). Não podemos entender o surgimento e a presença da VRC no Brasil sem os contextos históricos de ontem e de hoje. A ideia da Conferência amadureceu à luz dos movimentos pré-conciliares e tornou-se realidade na assimilação do Vaticano II e do consequente desdobramento das Conferências de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingos (1992) e Aparecida (2007), em plena sintonia com o Brasil mergulhado na ditadura (1964), até a redemocratização, a partir de 1985. A CRB sempre foi solidária com o povo brasileiro, com suas angústias e esperanças, retrocessos políticos e avanços democráticos. Desde sua natureza profética-mística-missionária, a CRB, como instituição de animação e organização da missão da vida religiosa no Brasil, soube contribuir com iniciativas corajosas, às vezes também em crise, mas sempre iluminada pela força do Evangelho. Agora, à luz da 1ª Assembleia Eclesial Latino Americana e do Caribe, 2021, e do Sínodo sobre a sinodalidade (2023), estamos num processo de ressignificação de nossa presença no território brasileiro com os desafios da mudança de época numa sociedade líquida e polarizada.
- Alguns elementos do marco histórico da fundação
A articulação em rede das religiosas(os) do Brasil foi uma iniciativa da Sagrada Congregação dos Religiosos, em Roma, no final dos anos 1940. No entanto, a ideia ganhou força no Brasil, a partir da realização do Congresso Internacional dos Religiosos(as) de 1950, em Roma, convocado pelo papa Pio XII. O tema do Congresso foi “A renovação dos estados de perfeição acomodada aos tempos e condições presentes.” Três eixos iluminaram os debates: a renovação quanto a vida e disciplina; a renovação da formação e educação; a renovação do apostolado ordinário e extraordinários dos religiosos(as). O Papa Pio XII teve protagonismo relevante no Congresso e deu um impulso decisivo para a renovação que chegaria com o Vaticano II (1962-1965).
Animados(as) pelo evento Internacional os(as) religiosas(os) do Brasil começaram a se articular e realizaram nos dias 07 a 13 de fevereiro de 1954, na cidade do Rio de Janeiro, com mais de 1000 religiosos(as), representantes de todos os Estados brasileiros, o 1º. Congresso Nacional dos Religiosos(as) do Brasil, com o apoio do Núncio Apostólico Dom Carlo Chiarlo, do cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, arcebispo do Rio de Janeiro, e do salesiano Padre Irineu Leopoldino de Souza. O padre Irineu Leopoldino foi uma figura chave no processo de fundação da CRB. “Homem inteligente, criativo e de grande capacidade de organização, empreendedor e de visão integrista” (Convergência jul/Ag 1986, ano XXI, n. 194, p. 358), contribuiu , nos primeiros anos, com a sistematização da CRB e, com ele, duas Congregações também tiveram importância vital: a Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado e a Congregação do Santíssimo Redentor (redentoristas).
Em 10 de fevereiro, o texto de fundação da CRB foi apresentado em sessão fechada somente com os Provinciais presentes no Congresso, 53 ao todo. No Estatuto estava previsto: uma assembleia Geral a cada 3 anos, uma Diretoria composta de 7 membros, com oito órgãos atuantes: jurídico, de estatística, educação e ensino, de catecismo, de assistência social, de obras diversas, de missões populares (Convergência jul/Ag 1986, ano XXI, n. 194, p. 359). A finalidade da Conferência seria de “coordenação e articulação das diversas comunidades religiosas, o estudo dos problemas, e a criação de serviços de interesse comum, visando a uma colaboração sempre mais eficaz” (Valle Edenio (org), Memória Histórica, as lições de uma caminhada de 50 anos CRB – 1954-2004, publicações CRB 2004, p. 36; Convergência jul/Ag 1986, n. 194, p. 359). No mesmo dia 10 foi eleita a Diretoria:
Presidente: D. Martinho Michler, Abade do Mosteiro de São Bento/RJ;
Secretário Geral: Pe. Irineu Leopoldino de Souza, sdb
Tesoureiro: Ir. João de Deus, Provincial dos Maristas;
Conselheiros(as): Pe. João Rocha, Provincial dos Jesuítas; Frei Tarcísio Palazzolo, Superiora das Missionárias de Jesus Crucificado; Madre Maria de Santa Clara Conort, Superiora Provincial da Ordem de Santa Úrsula.
A posse ocorreu no dia 11/02, festa de Nossa Senhora de Lourdes. A primeira sede foi concedida pelas irmãs do Colégio de Santa Úrsula no Rio de Janeiro. Dom Hélder Câmara deixou para a história esse pensamento sobre a criação da CRB: “O acontecimento tem para os Religiosos(as) do Brasil o mesmo alcance que teve para a hierarquia a fundação da CNBB. Os dois secretariados deverão, aliás, atuar sempre dentro da mais completa sintonização” (Valle Edenio, Memória Histórica, p. 37). Dois anos depois, 1956, a revista Convergência começou a circular, com o objetivo de intensificar a intercomunicação e colaboração entre os religiosos(as) do Brasil.
A partir da fundação, a CRB, com as iniciativas do secretário geral, assumiu um protagonismo rápido e com movimentação elevada de recursos econômicos. A forma como a CRB defendia a Lei de Diretrizes de Base da Educação e as relações com a Juventude Estudantil Católica (JEC) e, sobretudo, no parecer da CNBB, a estrapolação das atribuições da Conferência, criaram um impasse entre as duas Instituições. O padre Irineu era um homem de grandes iniciativas, empreendedor no sentido objetivo do termo. A CRB, em pouco tempo, conseguiu um prestígio internacional e uma articulação interna invejável. Porém, o crescimento empresarial da CRB chamou a atenção da hierarquia. O desejo de manter a CRB com sua autonomia própria, em relação a CNBB, aprofundou mais ainda a crise. O resultado foi a necessária substituição do secretário geral, em 1959, com o apoio do Núncio Apostólico Dom Armando Lombardi. Assumiu o padre Thiago Cloin, CSSR, com o objetivo de entrosar melhor a CRB na pastoral de conjunto da CNBB. Assim, a CRB retornou ao seu objetivo inicial de promover a renovação da VRC no Brasil, sem perder, porém, seu dinamismo.
- A articulação pastoral da VRC (1959-1965)
Com a eleição do novo secretário geral, padre Thiago Cloin, redentorista, a CRB começou a enveredar o caminho com duas metas: o melhor entrosamento com a CNBB e a inserção da VRC na pastoral de conjunto. Mudou o eixo das ações da Conferência sem alterar sua natureza, ou seja, “promover maior vitalização da VRC, no seio da Igreja renovada e em renovação” (Convergência jul/Ag, n. 194, p. 363).
Na Assembleia de 1962, nos inícios do Concílio Vaticano II, o tema foi: “O aprimoramento da VRC e a colaboração com a hierarquia, em vários níveis: apostolado sacerdotal, apostolado dos irmãos, apostolado das religiosas, apostolado educacional” (Convergência jul/Ag, n. 194, p. 364). Dom Hélder Câmara, secretário geral da CNBB, apresentou as grandes linhas da pastoral de conjunto e o Plano de Emergência, confiando a CRB, sua inteira adesão e colaboração. Também foi apresentado o iniciante “movimento de Natal” que, envolveu a VRC nos meios populares e plena sintonia com o Plano de Emergência. A adesão dos Superiores Gerais e Superioras foi fundamental para concretizar a melhor articulação da VRC nas ações promovidas à luz da pastoral de conjunto.
Com o advento do Concílio um novo capítulo foi aberto na VRC do Brasil. A euforia dos anos precedentes, a fundação da CRB e sua estruturação (Valle Edenio, Memória Histórica, p. 49ss), acaloraram mais ainda o processo. Com o término do concílio, dezembro de 1965, e o regime militar de 1964, que levou ao AI 5, em 1968, com a ditadura, censura, torturas, desrespeitos aos Direitos Humanos, conflito social, a Igreja do Brasil assumiu um novo protagonismo, “ser voz dos que não tinham voz.” A CRB não ficou à margem dos problemas sociais e políticos da época. Manteve-se unida a CNBB e aos movimentos de rejeição da ditadura pagando, inclusive, um preço alto com perseguições e mortes de religiosos(as).
O Concílio, convocado pelo Papa João XXIII, foi eminentemente pastoral. Sua meta era o diálogo com o mundo e com os irmãos separados e não católicos, portanto, ecumênico. A Igreja repensa sua natureza no Brasil e foi fiel a três princípios básicos do Concílio:
- Uma Igreja voltada para o mundo, atenta a missão evangelizadora – servidora;
- Igreja Povo de Deus, fundada na graça batismal, e não na hierarquia;
- Igreja que pensa sua ação evangelizadora a partir da realidade local, na comunhão de Igrejas, e não da cristandade;
A CRB seguiu esta intuição no processo de inserção na missão da Igreja e na sociedade em conflito. Assim construiu e amadureceu sua história.
- Na esteira do Vaticano II (1965-1968)
A palavra de ordem do Concílio foi o aggiornamento – atualização – sair do imobilismo das tradições, das normas anacrônicas, da formalidade de vida, do distanciamento do povo e das condenações teológicas. Isso provocou um grande êxodo da VRC para as periferias, experiência de pequenas comunidades inseridas nos meios populares. Porém, ao lado desse processo de abertura, haviam ambiguidades profundas como a secularização, o progresso científico e técnico com resultados surpreendentes para a VRC: crise de identidade, crise vocacional e a necessidade de rever sua própria natureza e a relação com a sociedade e com a Igreja (Valle Edenio, Memória Histórica, p. 58), o hábito religioso foi substituído pelo traje civil, muitos religiosos(as) tiveram acesso a cursos superiores. Muitos candidatos(as) negros(as) entraram na VRC, o sentido de justiça social e consciência crítica foram acentuados, forças libertadoras e de restauração do modo de vida foram dinamizados e tudo isso gerou “medo, ansiedade, perplexidade, alegrias e desejos” (CASTILHO PEREIRA William César (0rg.), Análise Institucional da vida religiosa consagrada, 2ª Ed., Publicações CRB, 2012, p. 32).
Essa euforia inicial criou também forças contrárias que reforçaram a crise na VRC e obrigaram a uma nova leitura da relação Sociedade e Igreja.
- A crise institucional numa Igreja em mudança (1968-1973)
Em 1968, a CRB realizou a Assembleia Geral Ordinária (AGO). O grande protagonista foi o padre Marcelo Azevedo, eleito presidente da CRB. O tema da Assembleia foi A vida religiosa no Brasil hoje. A reflexão nas Províncias mexeu com toda a VRC. Três fatos foram marcantes naquele momento: a realização da Conferência de Medellín (1968) com o objetivo de concretizar o Concílio na América Latina; O informe enviado pela Sagrada Congregação dos religiosos sobre a vida religiosa no Brasil; a crise econômico-financeira da CRB de 1970-1971. Também foi cada a equipe teológica da CRB.
Medellín foi a tomada de consciência sobre o Concílio na América Latina. Um evento, portanto, de grande valor transcendental eclesial e social. A Conferência lançou um olhar corajoso e profético sobre a realidade dos povos do continente e se descobriu como uma Igreja pluralista, conflitiva, com a clara visão de que era necessário o diálogo entre fé e justiça social. Evidentemente, a CRB foi envolvida nessa reflexão com a projeção da missão em contextos sempre mais desafiadores.
O Informe da Sagrada Congregação dos Religiosos apresentou críticas sérias contra o processo de renovação da CRB no Brasil. O padre Marcelo Azevedo teve a suficiente lucidez para responder às críticas e não aprofundou a crise, mas ajudou, através do diálogo construtivo o reconhecimento da vitalidade da CRB.
O colapso econômico-financeiro da CRB, entre 1970 e 1971, foi dilacerante. No entanto, a Diretoria soube fazer a gestão da crise oportunizando o momento e promovendo a natureza própria da missão da CRB que desencadeou a realização da X AGO em 1974, com a temática da missão e do profetismo.
- A redescoberta da missão profética da VRC (1974-1977)
À luz da Teologia da Libertação, que nascia da realidade Latino Americana, ajudou a CRB na reflexão sobre sua missão profética. Amparada com a realização do Sínodo de 1974, sobre Evangelização e a consequente exortação apostólica de Paulo VI, Evangelii Nuntiandi (1975), os processos de inserção na realidade brasileira e o serviço à sociedade a partir da riqueza dos carismas, proporcionou a experiência mística de estar no meio dos pobres, nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), como um momento do Espírito que projetou a VRC num movimento novo de comunhão e compromisso com o Povo de Deus, em sintonia com a realidade de conflito do Brasil.
- A riqueza de Puebla e os desafios de Santo Domingos para a VRC no Brasil (1977-1995)
A etapa que precedeu Puebla (1979), estava delineada em duas posições eclesiais de conflito. De um lado, a vivência da fé ligada à Teologia da Libertação, que denunciava a injustiça social e a desconexão entre fé e vida. A outra vertente defendia que o problema residia na perca de identidade do povo latino-americano e sua relação entre fé e cultura (Valle Edenio, Memória Histórica, p. 64).
A VRC estava imersa na primeira posição, Teologia da Libertação em sintonia com Medellín. A equipe de reflexão teológica da CRB trouxe a temática para a VRC e deu uma grande contribuição na preparação da AGO de 1977, sobre a missão profética. Os resultados de tamanho esforço foram importantes: a mudança institucional e o modelo de formação; a influência de Medellín na missão e profetismo da VRC; o crescimento das vocações vindas dos meios populares e o incremento do novinter, juninter e outras ações intercongregacionais na formação; a consciência de que a experiencia de Deus deve ser vivida a partir dos pobres;
Na primeira visita de João Paulo II ao Brasil (1980), a VRC, vivia os impactos positivos da Conferência de Puebla e a profética opção pelos pobres e jovens. A visita, com certeza, acelerou o desmonte da ditadura militar, porém, ressaltou duas tendências na experiência da Igreja no Brasil: a abertura sociopolítica e a cautela nos avanços intraeclesiais (Valle Ednio, Memória Histórica, p. 77). A CRB colocou-se na linha profética de libertação dos pobres com o processo de inserção nos meios populares nas CEBS, CIMI, CPT, PO, PJ, MST, Pastoral do Negro, da Mulher marginalizada, do Menor, Centros de Direitos Humanos, atraindo para si muitas críticas. A personalidade do Papa era muito forte e trouxe uma influência enorme para a caminhada eclesial da América Latina. O tema da Nova Evangelização, como um verdadeiro projeto de missão do Papa contra o avanço das chamadas “igrejas eletrônicas” e o retorno à disciplina, gerou uma tensão entre a hierarquia e a VRC. Quando a CLAR lançou o Projeto Palavra-Viva, para celebrar os 500 anos da Evangelização com uma leitura orante da Escritura, os conflitos não tardaram a chegar. A CRB encontrou na pessoa de Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB, acolhida e incentivo para o Projeto e publicou uma série de livros sobre o tema ampliando sua prática nos meios populares.
A Conferência de Santo Domingos (1992), apesar de seus limites, destacou as relações entre hierarquia e VRC como bastante tensas, porém, a Conferência não avançou muito e pouco repercutiu no Brasil, a não ser pelo tema da inculturação, assumido e refletido na práxis eclesial e da VRC. A convocação de um Sínodo sobre a VRC surpreendeu a todos(as). Havia um clima tenso, de conflito, sobretudo na América Latina. O Sínodo aconteceu em 1994, no Vaticano. A temática central foi sobre a eclesialidade. O cardeal relator, Hume, disse claramente: “Não há vida consagrada, com efeito, fora da vida e da missão da Igreja. Ela é suscitada e erigida pelos pastores para o bem do Corpo místico de Cristo, é reconhecida e erigida pelos pastores legítimos como estado consagrado a Deus, só vive se for como ramo unido ao tronco, participa na missão confiada à Igreja” (Valle Edenio, Memória Histórica, p. 90). O equilibrismo nesta relação hierarquia – VRC ainda não está totalmente serena. Há sempre alguma tensão, questão de poder, que pode ser resolvida no espírito de comunhão e reciproca colaboração.
A partir dos anos 90, a presença de leigos(as) vinculados aos carismas fundacionais começou a crescer com uma novidade interessante: a comunhão carismática e a missão. A VRC abraçou a causa e hoje, temos a riqueza da presença de cristãos leigos(as) que, com formação adequada e compromisso apostólico, dão às Congregações um novo alento, inclusive, com o despertar de vocações.
- A re-fundação da VRC (1995-2000)
O tema da re-fundação, em sintonia com as experiências anteriores, toma nova vigor a partir de 2001, com Assembleia Geral. O grande objetivo era voltar ao originas, às fontes da VRC no seguimento de Jesus Cristo. Com a força da invocação e presença do Espírito Santo nos trabalhos preparatórios e na realização da assembleia, a CRB, deixou-se envolver pela liberdade do sopro de Deus, ouvir, ver, conhecer e descer à realidade do Brasil e das periferias, incentivando a presença solidária e profética da VRC nos ambientes de maior vulnerabilidade. É fato, a CRB, sempre procurou responder aos sinais dos tempos e buscou de forma dialogal, mas sem perder o rumo, a animação da VRC naquilo que lhe é mais radical e profético: descer das amarras institucionais e deixar-se conduzir pelo Espírito, porque a VRC não consegue conviver com o engessamento da instituição. Ela nasceu no deserto, na hostilidade e no perigo, mas foi, no deserto, que ela sempre encontrou o Senhor da história que fez e continua fazendo jorrar a água viva.
- A presença da mulher na CRB
Acredito que seja importante este destaque na história da Conferência. Na verdade, a presença ativa das religiosas na Conferência remonta seus inícios, embora, na ordem da presidência nacional, a primeira mulher a ocupar a presidência foi a Irmã Maris Bolzan, sds. Também, na Assembleia de 2001, a presença de junioristas de todo o Brasil fez-se sentir dando um novo vigor e esperança. O Projeto da nova estrutura da CRB, iniciada no triênio passado, em relação à formação, a intercongregacionalidade e a opção pelos pobres, foi levada avante; enfim, a uma nova forma de ver e pensar a CRB no Novo Milênio.
Nesse sentido, em forma de mutirão, a nova Diretoria levou pra frente o Plano de Ação, fazendo ressurgir uma fisionomia mais ousada da vida religiosa no Brasil, com três eixos fundamentais: Projetos voltados para a presença da VRC na sociedade; Projetos voltados para a presença eclesial da CRB; Direções principais na animação interna da VRC (Valle Edenio, Memória Histórica, p. 180-188). Realizou-se também a revisão do Estatuto civil e o Regimento Interno da sede Nacional e das Regionais. Gerou, podemos admitir, um novo olhar para os tempos que desafiavam a CRB na sua missão. É importante destacar a captação de recursos dessa época através de instâncias eclesiais e religiosas como a ADVENIAT, MISEREOR, KIKCHE IN NOT, com apoio para a formação, bolsas de estudo e projetos sociais.
A presença de três presidentes: Irmã Maris Bolsan, sds; Irmã Márian Ambrosio, idp; Irmã Maria Inês, mad, deram a CRB uma fisionomia feminina positiva e dinâmica, fortalecendo ainda mais o valor da Conferência com sua contribuição masculina e feminina em todos os níveis.
- Relação da Presidência
- Dom Martinho Michler, OSB – 1954-1965
- Antônio Aquino, SJ – 1965-1968
- Marcelo de Carvalho Azevedo, SJ – 1968-1977
- Décio Batista Teixeira, SDB – 1977-1983
- Claudio Falquetto, FMS – 1983-1989
- João Edênio R. Valle, SVD – 1989-1995
- João Roque Rohr, SJ – 1995-2001
- Irmã Maris Bolzan, SDS – 2001-2007
- Irmã Márian Ambrosio, IDP – 2007-2013
- Irmão Paulo Petry, FSC – 2013 – 2014
- Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, MAD – 2014-2022
- Irmã Eliane Cordeiro de Souza, Mercedária da Caridade. 2022-2025
A Assembleia de 2022, eletiva, retornará, em certo sentido, ao tema da re-fundação, porém, com outra variante, a re-ssignificação da VRC no contexto atual do país, no enfrentamento da pandemia e nos desafios de um “novo normal”, que exigirá de nós perseverança e fidelidade criativa.
Pe. João da Silva Mendonça Filho, sdb
Imagem masculina de Deus: a interpelação feminista
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dei Filius (Constituição do Vaticano I)
Sumário
Introdução
1 Contexto e história da redação
2 Pressupostos teológicos
3 Alguns tópicos da Dei Filius
3.1 Presença constante de Cristo
3.2 Duas vertentes anti-tridentinas
3.3 Descrição de Deus
3.4 Tematização da revelação divina
3.5 Uso do paradigma coisificado de revelação
3.6 Diferença da Reforma Protestante
3.7 Dois tipos de conhecimentos sobre Deus
3.8 Adesão à revelação mediante fé sobrenatural
3.9 Motivos para credibilidade na revelação
3.10 Relação entre fé sobrenatural e razão natural
3.11 Cânones de condenação
Conclusão
Referências
Introdução
A “Constituição dogmática sobre a Fé Católica Dei Filius” é o documento aprovado pelo Concílio Vaticano I e pelo Papa Pio IX em 24 de abril de 1870. O título Dei Filius corresponde às primeiras palavras do longo documento, que começa assim: “O Filho de Deus e redentor do gênero humano, Nosso Senhor Jesus Cristo” (“Dei Filius et generis humani Redemptor Dominus Noster Iesus Christus”). Os termos que precedem o título e que fornecem a categoria do documento significam que a Dei Filius aborda questões dogmáticas e especulativas – e não de Moral ou Direito – sobre o tema da fé no Filho de Deus referido no título.
A Dei Filius é fruto e consequência da linha eclesial amplamente majoritária na época. Por sua vez, ela suscitou efeitos duradouros e sua influência é imensa. Por exemplo, ela permanece sendo referida por documentos papais. São João Paulo II a cita na encíclica Fides et Ratio, de 1998, e Papa Francisco a menciona na encíclica Lumen Fidei, de 2013. É também presença indispensável nos manuais e cursos de Teologia Fundamental (ALLEN, 2016, p. 139).
Inicialmente serão considerados o contexto e a história da redação da Dei Filius. Depois serão tratados quatro pressupostos teológicos da constituição. Enfim, serão examinados os grandes temas aos quais a Dei Filius se dedica, todos eles no campo da Teologia Fundamental.
As duas principais obras específicas sobre a Dei Filius são ainda o livro de Jean-Michel-Alfred Vacant, publicado no final do século XIX em dois volumes num total de 1.300 páginas, e o de Hermann Pottmeyer, de 1968. Também obras não específicas sobre a Dei Filius são referências importantes. As citações da Dei Filius serão feitas, na medida do possível, mediante o Compêndio dos Símbolos de Denzinger-Hünermann (daqui para a frente referido como DH), que não reproduz, contudo, o texto integral da constituição. Este encontra-se disponibilizado na página-web do Vaticano, que será aqui referida quando a passagem não se encontrar no Denzinger.
1 Contexto e história da redação
O contexto mais imediato da redação da constituição Dei Filius foi o da perda paulatina, pelo bispo de Roma, do Estado Pontifício, reino sobre o qual ele detinha pleno poder temporal. No século XIX fazia mais de mil anos que os papas exerciam soberania temporal sobre um território composto pela região onde se situa Roma, mais regiões próximas com oscilações ao longo dos séculos. Tratava-se de um Estado independente com muitas cidades e considerável população, chegando a ser no século XIV um dos maiores da península. A revolução francesa precipitou o ocaso do Estado Pontifício. Em 1796 Napoleão Bonaparte chantageou o Papa Pio VI para não invadir seu reino. Em 1809 Napoleão transformou o Estado Pontifício em possessão francesa, mas em 1815 o Congresso de Viena o restaurou. Em 1848 Pellegrino Rossi, primeiro-ministro de Pio IX, foi assassinado em Roma, e o papa precisou fugir da cidade. Entre 1849 e 1850 tropas da região do Piemonte, chefiadas por Giuseppe Garibaldi, forçaram novamente o sumo pontífice a sair de Roma, retornando com ajuda militar de França e Áustria. Em seguida a uma série de guerras de unificação, em 1861 formou-se o Reino da Itália e o Estado Pontifício ficou reduzido a sua mínima expressão: apenas a cidade de Roma na qual se realizou o Concílio Vaticano I (ERCOLE, 1935, p. 45-46; STATO PONTIFICIO, 2022, sem paginação; O’MALLEY, 2019, p. 17-19).
Além da perda gradual do Estado Pontifício, os confrontos plurisseculares da Igreja Católica com a Reforma Protestante e o Iluminismo – em suas várias correntes – completavam um amplo espectro de hostilidades (SANCHEZ, 2015, p. 183). Tratava-se de ataques “que estavam associados a novos modelos de pensamento político e social” (CHAPPIN, 2017, p. 857). Limitando-nos a temas de Teologia Fundamental, a Reforma Protestante recusava a Tradição e afirmava o princípio da suficiência revelativa da Bíblia (sola Scriptura), negando o papel da Igreja Católica na transmissão e na interpretação da revelação divina. O Iluminismo, no conjunto das várias correntes, asseverava uma série de princípios ainda hoje vigorosos em círculos intelectuais e acadêmicos. Sobre Deus, que ele não existiria ou que, se existisse, não interferiria no mundo. Sobre Cristo, que os relatos evangélicos seriam invenções e que Jesus teria sido um ser humano comum. Sobre a revelação, que ela seria apenas invenção. Sobre a Bíblia, que a Escritura conteria apenas história humana, não passando o resto de relatos inventados. Sobre a Igreja, que ela não seria necessária. Sobre a razão e a fé, que a racionalidade seria a forma adulta da pessoa humana, e que a fé religiosa seria degrau infantil (POTTMEYER, 1968, p. 17-44; THEOBALD, 2006, p. 195-198; LIBANIO, 1992, p. 383).
Foi nesse abrangente contexto hostil que o Concílio Vaticano I aconteceu na cidade de Roma, então equivalente ao Estado Pontifício em sua mínima expressão, nos últimos meses de sua existência, entre dezembro de 1869 e outubro de 1870. Uma grande novidade do Concílio Vaticano I foi seu caráter exclusivamente eclesial. “Nenhum governante das nações estava ali representado, contrariamente ao que havia acontecido nos concílios ecumênicos anteriores, em que de antemão os soberanos civis tinham lugar garantido” (BRUGERETTE; AMANN, 1950, p. 2549).
Os trabalhos preparatórios para o Concílio Vaticano I haviam começado em 6 de dezembro de 1864, quando o Papa Pio IX reuniu-se com a Sagrada Congregação dos Ritos e informou reservadamente aos presentes sua intenção de convocar um concílio ecumênico. Pio IX solicitou aos cardeais do grupo, e aos demais da Cúria Romana, que lhe enviassem cada um o próprio parecer sobre tal convocação. Sem unanimidade, mas com expressiva maioria, as respostas foram afirmativas e forneceram as duas linhas que norteariam o concílio. Por um lado, a preocupação pastoral de expor positiva e claramente a doutrina da Igreja sobre os temas tratados. Por outro, conviria levar em consideração o contexto bastante hostil e condenar nitidamente os erros contrários à religião: jansenismo, espiritismo, racionalismo, materialismo, panteísmo, naturalismo, ateísmo e socialismo. A encíclica Quanta Cura e seu anexo Syllabus Errorum, que Pio IX havia acabado de publicar em dezembro de 1864, deveriam fornecer subsídios para os trabalhos. O Syllabus Errorum (“Resumo dos erros”), em particular, era uma lista que reprovava oitenta proposições manifestadas em formulações do racionalismo, materialismo, ateísmo e liberalismo. A primeira comissão de trabalho, intitulada Congregação Diretora dos Assuntos do Futuro Concílio Geral, que tinha o papa como presidente, foi instituída por ele em março de 1865. Para o trabalho pré-conciliar, essa primeira comissão criou seis outras a ela subordinadas: a) doutrinal ou teológico-dogmática; b) político-eclesiástica; c) missões e Igrejas Orientais; d) disciplina; e) clero religioso; f) ritos e cerimônias (VACANT, 1895, p. 17-22; POTTMEYER, 1968, p. 45-47).
Foi a comissão doutrinal pré-conciliar que redigiu a primeira versão, ou schema, da futura constituição Dei Filius. A primeira reunião dessa comissão aconteceu em 24 de setembro de 1867. O presidente da comissão doutrinal era o Cardeal Luigi Bilio, barnabita. Os demais vinte e três membros da comissão pré-conciliar eram os bispos Cardona, Corcoran, Jacquenet, Monaco La Valetta, Pecci, Petacci, Schwetz e Weathers, e os padres Adragna, Alzog, Bonfigli Mura, Cossa, De Ferrari, Franzelin, Gay, Guidi, Hettinger, Labrador, Martinelli, Perrone, Schrader, Spada e Tosa (VACANT, 1895, p. 20). O título desse texto pré-conciliar era “Sobre a doutrina católica contra os muitos erros derivados do racionalismo” (De Doctrina catholica contra multiplices errores ex rationalismo derivatos). Este era apenas o primeiro de um total de 50 textos pré-conciliares elaborados pelas seis comissões. Seu título refletia os dois propósitos do futuro concílio: exposição da doutrina e condenação dos erros contra a religião. O último membro da comissão doutrinal a rever esse texto pré-conciliar, com o encargo de dar-lhe a feição final, foi o jesuíta Johann Baptist Franzelin. Esse texto pré-conciliar tinha três partes: a) Doutrina católica e erros do materialismo, panteísmo e racionalismo, com dois capítulos; b) Doutrina católica e erros do semirracionalismo, com nove capítulos; c) Doutrina católica e outros erros diversos, com quatro capítulos. A constituição Dei Filius resultaria das duas primeiras partes acima mencionadas (VACANT, 1895, p. 22-33; POTTMEYER, 1968, p. 48-55).
Em 29 de junho de 1868, Pio IX publicou a bula Aeterni Patris com a qual convocava o concílio ecumênico a ter início no final do ano seguinte. “O Concílio Vaticano [Primeiro] começou em 8 de dezembro de 1869, na ala do braço direito da Basílica de São Pedro convertida em auditório. O imenso contingente de vinte mil peregrinos que vieram a Roma demonstrava o grande interesse que esse evento vinha suscitando em todas as partes do mundo” (BRUGERETTE; AMANN, 1950, p. 2548). O Concílio Vaticano I teve 89 reuniões de discussão em assembleia, entre 10 de dezembro de 1869 e 1o de setembro de 1870. Nesse ínterim, o texto “Sobre a doutrina católica”, foi discutido em duas fases: de 30 de dezembro de 1869 a 10 de janeiro de 1870, e de 18 de março a 19 de abril de 1870. Entre uma fase e outra, ele foi retrabalhado e cortado conforme as demandas expressas em assembleia. Por encargo confiado pela nova Comissão da Fé, escolhida pelo voto conciliar em 14 de dezembro de 1869, o trabalho foi feito pelo bispo alemão Konrad Martin, da diocese de Paderborn, com subsequente aprovação pela Comissão da Fé. Os onze primeiros capítulos do texto pré-conciliar foram remodelados e transformados em quatro, e esse conjunto recebeu já na ocasião o título de “Constituição dogmática sobre a Fé Católica”. As linhas mestras da revisão foram: adicionar um prólogo com a situação religiosa do povo cristão, manter a substância do texto, abreviá-lo, retirar expressões muito técnicas da Teologia Escolástica, e dotá-lo de tonalidade mais consoante ao papel da Igreja que fala, como mãe aflita, dos erros dos filhos. Na segunda fase, após a discussão sobre o texto remodelado, sucederam-se novas alterações do texto, além de uma série de votações e novas modificações. Em 24 de abril de 1870 procedeu-se à votação final do texto completo, com o placet de todos os 667 padres conciliares, e o Papa Pio IX aprovou e proclamou a Constituição Dei Filius (VACANT, 1895, p. 28-39).
O Concílio Vaticano I prosseguiu ordinariamente seus trabalhos até julho de 1870, quando a maior parte dos padres conciliares saiu da cidade às pressas, mas ainda com segurança. “As três últimas sessões, de 23 de agosto a 1o de setembro, contaram com a presença, respectivamente, de 136, 127 e 104 participantes” (BRUGERETTE; AMANN, 1950, p. 2577). Em 20 de setembro, Roma foi finalmente invadida pelas tropas do Reino da Itália (O’MALLEY, 2019, p. 222-223), e um decreto do rei, em 9 de outubro de 1870, declarou a anexação da cidade (REGIO DECRETO, 1870, sem paginação).
2 Pressupostos teológicos
As afirmações teológicas da Dei Filius são construídas sobre pressupostos. O significado delas só é alcançado levando-os em consideração (POTTMEYER, 1969, p. 82-107). A Dei Filius presume elementos fulcrais da Teologia Escolástica que se encontravam na reflexão de São Tomás de Aquino, no século XIII, 600 anos antes da constituição conciliar (LONERGAN, 1968, p. 56):
a) Distinção entre natural e sobrenatural. Na Teologia Escolástica, sobretudo a partir de Tomás de Aquino, por um lado, o mundo das realidades sensíveis, com as forças e capacidades que o compunham, era chamado de Natureza. Em particular as faculdades, iniciativas e ações dos seres humanos – como a razão – pertenciam a esse âmbito natural. Por outro lado, acima da Natureza havia uma ordem superior e transcendente, o âmbito do sobrenatural. Supernaturalis designa um plano superior à Natureza: o âmbito de Deus, do incriado. Esse âmbito do sobrenatural incluía as iniciativas, forças e capacidades de Deus, mesmo quando se manifestavam “embaixo”, no âmbito do mundo sensível (natural), como, por exemplo, os milagres e a revelação.
b) Paradigma coisificado de revelação. O processo revelativo dependia totalmente da iniciativa divina: Deus foi seu autor, e por isso a revelação era sobrenatural. No mundo sensível em que vive o ser humanos antes da morte, o objeto da revelação (aquilo que foi revelado) era pensado de maneira coisificada: o que Deus revelou nesse mundo consistia em algo – palavras – que vieram do âmbito sobrenatural para o natural. Essas coisas ou palavras reveladas abrangiam dois assuntos: o ser interno de Deus e os decretos divinos para a humanidade ser salva. A garantia principal da sobrenaturalidade das palavras reveladas estava em sua origem, a boca de Cristo, que é divino e humano. Para a salvação eterna, que significava chegar ao estado de visão perfeita da bem-aventurança, o ser humano necessitava crer em algo que superava o conhecimento obtido pela razão (natural). “O conhecimento natural não lhe bastava para sua perfeição, mas era necessário outro conhecimento, o sobrenatural” (ST II-II, q.2, a.3, ad 1).
c) Fé sobrenatural para alguns. Diante da pregação eclesiástica, e especialmente diante dos sobrenaturais milagres e revelação, Tomás de Aquino se indagava pelas causas internas no sujeito que explicariam por que motivo, de um lado, alguns criam, e de outro, os demais não criam na verdade revelada. O grande teólogo dominicano levou em conta apenas duas variáveis internas à pessoa humana (ST II-II, q.6, a.1 c ). Uma causa interna era do âmbito natural, o livre-arbítrio, mas esta não explicava a diferença, porque os dois grupos a tinham em comum. A outra causa interna, de ordem sobrenatural, é que explicaria a diferença: uma ação divina em algumas pessoas, mas não em outras, é que moveria interiormente o indivíduo a crer na veracidade daquelas coisas. Tomás de Aquino resumia assim essa questão: “crer é um ato do intelecto que adere à verdade divina sob a moção da vontade, que Deus move pela graça” (ST II-II, q. 2, a. 9, c ). Essa ação divina, que se aplicava a uma parte dos indivíduos, era designada de fé sobrenatural.
d) Conhecimento natural sobre Deus suscetível de ser obtido por qualquer um. Algumas coisas a respeito de Deus podiam ser conhecidas sem qualquer revelação. Bastava para isso que os seres humanos aplicassem com afinco a razão (natural), a atividade humana do intelecto, e refletissem sobre as coisas da Natureza, para chegar à conclusão de alguns conhecimentos acerca de Deus. Quando isso acontecia, tais conhecimentos não se originavam “acima”, não procediam do âmbito sobrenatural e não eram revelação, pois eram obtidos pelo mero esforço intelectual humano. Tratava-se de conhecimento sobre Deus que podia ser obtido pela mediação das criaturas em geral, a criação (LONERGAN, 1968, p. 55). Contudo, dado que os conhecimentos naturais sobre Deus exigem muito tempo e esforço para serem obtidos, e que poucas pessoas os obtinham dessa maneira, foi conveniente que eles fossem também revelados por Deus.
No século XIX, esses quatro elementos eram amplamente conhecidos, tanto nos seminários católicos como no âmbito da formação teológica protestante. A diferença era que, para os católicos, o imenso conjunto de palavras reveladas, portanto sobrenaturais, encontrava-se tanto na palavra escrita na Bíblia como nas tradições não escritas, enquanto, para os protestantes, estaria apenas no Livro Sagrado: era o princípio da suficiência revelativa da Bíblia, a sola Scriptura. Em base a tais elementos é que as afirmações da constituição Dei Filius foram desenvolvidas.
3 Alguns tópicos da Dei Filius
A Dei Filius divide-se em dois blocos. O primeiro, composto de prólogo e quatro capítulos, é a parte teológico-pastoral com o ensinamento católico sobre aquilo que se deve crer e seguir em temas-chave. O segundo, com quatro subdivisões, contém o elenco das reprovações de cunho jurídico, emanadas pelo concílio no gênero literário “cânone”, condenando aquilo que é inadmissível (O’MALLEY, 2019, p. 168-171; AUBERT, 1964, p. 191-194). Apresenta-se a seguir uma síntese dos temas principais da Dei Filius, quase todos do primeiro bloco.
3.1 Presença constante de Cristo
A primeira frase do prólogo afirma a permanência real e benéfica de Cristo com a Igreja em todos os dias. O mesmo parágrafo introdutório faz a relação de uma série de eventos positivos que demonstram essa constante presença. O prólogo está quase totalmente ausente no Denzinger, mas é relevante para a correta compreensão da Dei Filius (THEOBALD, 2006, p. 218). Seu início afirma:
O Filho de Deus e redentor do gênero humano, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava para voltar ao Pai celestial, prometeu que permaneceria com sua Igreja militante na terra todos os dias até a consumação dos tempos. Portanto ele nunca, em tempo algum, deixou de estar pronto para ajudar sua amada esposa, para ajudá-la como mestre, para abençoá-la na ação, para resgatá-la no perigo[1]
A Igreja não se desencaminha ou conduz a erro porque Jesus Cristo prometeu estar com ela na terra “todos os dias até a consumação dos tempos” e “nunca, em tempo algum” (“nullo unquam tempore”) deixou de cumprir tal promessa. A afirmação da Dei Filius foi e continua relevante em situações nas quais papas e concílios até hoje são erroneamente acusados de desvios e heresias.
3.2 Duas vertentes anti-tridentinas
Em seguida ao primeiro parágrafo em tom positivo, ainda no prólogo, a Dei Filius identifica as duas principais vertentes que se opuseram às diretrizes do Concílio de Trento. Uma é a Reforma Protestante, caracterizada ali por sua divisão em múltiplas seitas, pela primazia atribuída ao juízo do indivíduo acerca das coisas religiosas e por considerar a Bíblia como única fonte para a doutrina. Outra é o Iluminismo, identificado ali primeiramente pela rejeição da fé em Cristo e do caráter divino da Bíblia, tida como coleção de invenções míticas. Algumas correntes iluministas são nomeadas: racionalismo, naturalismo, panteísmo, materialismo e ateísmo. Manifesta-se assim já no prólogo que uma das intenções fundamentais do Syllabus Errorum de Pio IX em 1864 – aquela de proscrever, sem nuances, opiniões e doutrinas – foi determinante para a redação da Dei Filius visando preservar a fé católica num contexto repleto de vozes discordantes e efetivas.
3.3 Descrição de Deus
O capítulo 1 é dedicado a descrever Deus em seus atributos e na sua relação com aquilo que ele criou. Os conceitos e linguagem utilizados são todos devedores da grandiosa empresa teológica metafísica de São Tomás de Aquino, e guardam distância das maneiras sensíveis, concretas e permeadas de afeto empregadas para se falar de Deus na Sagrada Escritura – os Evangelhos em particular – e nos Padres da Igreja.
3.4 Tematização da revelação divina
Pela primeira vez na história da Igreja um concílio ecumênico dedica pelo menos um capítulo – neste caso o de número 2 – à exposição do tema da revelação. Nunca anteriormente um concílio havia dedicado tanto espaço a esse tema. A razão principal para tal ineditismo foi a novidade representada pela negação de qualquer divindade e qualquer revelação por parte de marcantes correntes iluministas. O Concílio Vaticano I aproveitou esse inovador capítulo para inserir ali tópicos nesse campo que resultavam do confronto com a Reforma Protestante e que já haviam sido afirmados em 1546 pelo Concílio de Trento no “Decreto sobre as Escrituras Canônicas” (Decretum de Canonicis scripturis; DH 1501), como a inspiração e o cânon da Bíblia.
3.5 Uso do paradigma coisificado de revelação
O capítulo 2 sobre a revelação divina deixa claro que o autor da revelação é Alguém (Deus), mas concebe o objeto da revelação (o que é revelado) como diferente e distinto de Deus: coisas ou palavras. Trata-se de um paradigma de revelação que caracterizava a Teologia católica desde a Época Escolástica, especialmente em São Tomás de Aquino. Em tal concepção, a revelação que, depois dos apóstolos, os fiéis têm à disposição no tempo antes da morte, seria composta apenas por palavras. No século XIII Tomás havia resumido assim:
A verdade divina, que supera o intelecto humano, desceu até nós sob forma de revelação, não, porém, como se tivesse sido mostrada à maneira de uma visão, mas como frases que foram apresentadas de tal forma que podemos acreditar nelas[2].
Trezentos anos depois, na época do Concílio de Trento, esse paradigma coisificado caracterizava a reflexão teológica em geral (tanto católica como reformada) e estava consolidado também no Magistério, formado à luz do tomismo. No Concílio Vaticano I, o paradigma coisificado de revelação atingiu o píncaro da glória ao ser usado na Constituição dogmática Dei Filius acompanhado de citação à letra do decreto tridentino:
Esta revelação sobrenatural, segundo a doutrina da Igreja universal, definida pelo santo Sínodo de Trento, está contida ‘nos livros escritos e tradições não escritas que, recebidas da boca do próprio Cristo pelos apóstolos, ou por ditado do Espírito Santo entregues como que em mão dos próprios apóstolos, chegaram até nós’[3].
3.6 Diferença da Reforma Protestante
Embora o paradigma coisificado de revelação caracterizasse tanto o âmbito católico como o protestante, havia diferença entre os dois lados. Segundo Trento e a Dei Filius, conforme a citação anterior, depois do tempo dos apóstolos tais palavras podem ser encontradas tanto na Bíblia como em tradições não escritas. Para a Reforma, um princípio importante era o da sola Scriptura, ou suficiência revelativa da Bíblia: palavras reveladas seriam apenas aquelas que se encontram no Livro Sagrado. No prólogo, em trecho que não consta no Denzinger, a Dei Filius faz alusão a essa posição protestante. A constituição fala ali de heresias que paulatinamente se fragmentaram em diversas seitas, mas que, mesmo combatendo entre si, para elas “a Bíblia Sagrada […] era afirmada como única fonte e juiz para a doutrina cristã”[4].
Nem Trento nem a Dei Filius, contudo, especificaram o conteúdo das “tradições não escritas”, e tampouco onde elas se encontram e como fazer para distinguir as “tradições não escritas” reveladas daquelas muitas outras que têm origem meramente humana. Na apresentação católica do paradigma coisificado de revelação, essas graves lacunas deixaram amplo espaço a ser indevidamente preenchido com os arroubos de grupos aferrados a tardios costumes medievais, mas desvinculados do depósito da fé manifestado na revelação fundamental cuja plenitude é o evento da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.
3.7 Dois tipos de conhecimentos sobre Deus
A Dei Filius também elevou ao ápice da glória a clássica distinção tomista entre, por um lado, os conhecimentos sobre Deus aos quais pode-se chegar utilizando a razão natural e, por outro, os conhecimentos sobre Deus aos quais só se chega mediante revelação divina, junto ao esclarecimento de que, como os conhecimentos naturais sobre Deus exigem tempo e esforço para serem conseguidos e são assim obtidos por poucos, foi conveniente que eles também fossem revelados por Deus, de modo sobrenatural. A ideia do caráter sobrenatural da revelação é o objeto principal da Dei Filius (THEOBALD, 2006, p. 231). Tal distinção tardia do segundo milênio, que caracterizava a Teologia Escolástica a partir de precisos pressupostos, galgou na Dei Filius ao nível de definição do Magistério. No capítulo 4 sobre a articulação entre fé e razão o documento afirma:
O constante sentir da Igreja Católica tem também sustentado e sustenta que há duas ordens de conhecimento distintas […]. Em uma conhecemos pela razão natural e na outra, pela fé divina; […] além daquilo que a razão natural pode atingir, são propostos para crermos mistérios escondidos em Deus, que não podemos conhecer sem a divina revelação[5].
No capítulo 2 a Dei Filius declara:
A mesma santa mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas, […] mas que aprouve à sua misericórdia e bondade revelar sobre si mesmo e os eternos decretos da sua vontade à humanidade por outra via, e esta sobrenatural[6].
Como exemplos de verdades sobre Deus que podem ser obtidas de modo meramente natural, Tomás de Aquino indicava a existência e a unicidade divina (SCG I, 3). São conhecimentos a respeito de Deus que podem ser obtidos por qualquer um desde que aplique com afinco a razão na análise das coisas criadas. Quando isso acontece, segundo Tomás de Aquino e agora solenemente na Dei Filius, esse conhecimento verdadeiro não é revelação, mas mero fruto do esforço intelectual humano. Contudo, como os conhecimentos naturais sobre Deus requerem muito tempo e esforço para serem obtidos, foi conveniente que eles fossem também revelados por Deus, de modo a serem também acessíveis à grande maioria que não consegue alcançá-los de modo meramente natural.
Por outro lado, como exemplo de conhecimento sobrenatural a respeito de Deus, Tomás mostrava a verdade de que Deus, sendo único, é trino. Para Tomás, e agora na Dei Filius, só a categoria sobrenatural de conhecimentos é que deve ser chamada de revelação.
Em síntese, alguns conhecimentos sobrenaturais (revelados) sobre Deus podem também serem alcançados de maneira meramente natural, sem revelação (por exemplo, que Deus existe e que é único), mas outros não, só podem ser acessados porque anteriormente Deus os comunicou à humanidade, e a mera labuta da razão humana não conseguiria atingi-los sozinha (por exemplo, que o único Deus é trino).
Os conhecimentos sobrenaturais devem ser aqui compreendidos à luz do paradigma coisificado de revelação. Trata-se de verdades proposicionais, isto é, enunciados linguísticos compostos de sujeito, verbo e atributo. Eles abrangem dois campos: os atributos de Deus e os decretos a serem seguidos pelos humanos. É esse o alcance da frase da Dei Filius: “aprouve à sua misericórdia e bondade revelar sobre si mesmo e os eternos decretos da sua vontade [“se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta […] revelare”] à humanidade por outra via, e esta sobrenatural”. “Revelar sobre si mesmo” deve ser compreendido como mera transmissão de informações verbais a respeito dos atributos e da vida interior de Deus. A Dei Filius não intenciona expressar ali uma “autocomunicação” divina, isto é, uma relação dialogal na qual o objeto da revelação é o próprio Deus (Alguém), além das palavras (algo). Isso só será feito solenemente décadas depois, no Concílio Vaticano II, pela Constituição dogmática Dei Verbum, com a qual a Igreja Católica resgatou o paradigma personalista de revelação que caracterizava tanto o Israel do Antigo Testamento e o tempo de Cristo e dos apóstolos (o depósito da fé), como também a Igreja dos primeiros séculos.
3.8 Adesão à revelação mediante fé sobrenatural
O capítulo 3 da Dei Filius eleva ao patamar magisterial outra reflexão tardia, do segundo milênio: a análise feita por Tomás de Aquino sobre as causas internas de adesão ou não à revelação. O grande teólogo concluía que uma ação divina (portanto sobrenatural) especial sobre algumas pessoas é que as levava a crer na verdade que havia sido revelada. Agora a Dei Filius declara:
Esta fé, que é o início da salvação humana, a Igreja a professa como virtude sobrenatural que, pela divina graça que insufla e auxilia, cremos ser verdade o que Deus revela[7].
Portanto, não é só a revelação que provém de Deus, mas também a fé nessa revelação. Uma passagem do capítulo 4 resume assim: “Deus, que revela os mistérios e infunde a fé” (“Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit”; DH 3017). Seguem-se os passos de Tomás de Aquino, que levou em consideração apenas dois fatores humanos internos a influenciar a adesão ou rejeição da revelação: o geral livre-arbítrio natural e uma especial ação divina sobrenatural. Nessa ótica, há uma ação divina especial em alguns que os leva a crer como verdadeiro o conteúdo revelado. Outras causas internas da resposta humana, hoje claros e inegáveis, não são sequer vislumbrados dentro do horizonte da Dei Filius. Isso, que seria aceitável no século XIII e tolerável até no século XIX, hoje em dia patenteia apenas consideração redutiva das causas internas das decisões humanas, que vão além dessas duas variáveis no que concerne tanto ao âmbito da criatura como ao do que é incriado, a ação divina. Dentro do horizonte da Dei Filius, o inevitável passo seguinte é declarar a separação sem matizes entre dois lados antípodas: “de modo algum é igual a condição daqueles que, pelo dom celeste da fé, aderiram à verdade católica, e a dos que, guiados por opiniões humanas, seguem uma religião falsa”[8].
3.9 Motivos para credibilidade na revelação
A especial ação interna divina em algumas pessoas, que as leva a crer na verdade divina revelada, combina-se com fatores externos, importantes porque geram credibilidade. A adesão de fé não é acompanhada pela razão cega, mas mobiliza vontade e intelecto. O capítulo 3 da Dei Filius explicita três fatores externos ao indivíduo que dinamizam vontade e intelecto e geram a credibilidade. Primeiramente, os milagres e as profecias (DH 3009), que já tinham esse papel na reflexão de Tomás de Aquino. Um terceiro fator é acrescentado pela Dei Filius:
Além disso, a Igreja em si mesma, por sua admirável propagação, exímia santidade e inesgotável fecundidade em todos os bens, por sua unidade católica e invicta estabilidade, é um grande e perpétuo motivo de credibilidade[9].
No contexto das marcantes hostilidades que há tempos a confrontavam, o autojuízo da Igreja era sem óbices e invencivelmente enaltecedor.
3.10 Relação entre fé sobrenatural e razão natural
Neste campo, também pela primeira vez na história da Igreja um concílio dedica pelo menos um capítulo – aqui o de número 4 – à exposição das relações entre fé e razão. O texto explicita que fé e razão são relacionáveis e que entre elas os vínculos podem se estabelecer de maneira saudável:
Ainda que a fé esteja acima da razão, jamais pode haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus, que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão, e Deus não pode negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade[10].
A Dei Filius enfatiza o valor da Ciência moderna e do seu método, e reconhece os frutos benéficos que desta se originam:
A Igreja, longe de se opor ao cultivo das artes e das ciências humanas, antes de muitos modos as auxilia e promove. Pois não ignora nem despreza as vantagens que delas dimanam para a vida humana; pelo contrário, ensina que, como elas procedem de Deus, o Senhor das ciências, assim, quando bem empregadas, conduzem a Deus, com o auxílio de sua graça. Nem proíbe que tais disciplinas, cada qual em seu respectivo âmbito, façam uso de seus princípios e métodos próprios[11].
Trata-se de defesa explícita da liberdade da Ciência moderna. Na Dei Filius, as Ciências, enquanto alicerce da modernidade, são avaliadas positivamente: “procedem de Deus” (“a Deo […] profectae sunt”). A via para o diálogo com a Ciência moderna, sem confusão de objetivos e métodos, é aplainada. O capítulo 4 afirma que “existe, no fundo, uma harmonia entre a revelação divina e o conhecimento humano” (CHAPPIN, 2017, p. 858), mas não ignora erros como as afirmações radicais, por um lado, da autossuficiência da razão científica e, por outro, da autossuficiência da fé.
3.11 Cânones de condenação
O segundo bloco da Dei Filius compõe-se de 18 reprovações de cunho jurídico emanadas no gênero literário “cânone”. Elas são subdivididas em quatro seções, cada uma referida aos quatro capítulos do primeiro bloco. A primeira seção condena 5 afirmações a respeito de Deus, que abrangem politeísmo, ateísmo, materialismo, positivismo e panteísmo. A segunda seção reprova 4 afirmações que concernem a revelação, como fideísmo, tradicionalismo, racionalismo, ateísmo, deísmo, positivismo, Teologia Liberal e protestantismo. A terceira seção condena 6 afirmações sobre a fé, que abrangem racionalismo, subjetivismo e pluralismo. A última seção reprova 3 afirmações a respeito da relação entre fé e razão, como naturalismo, Teologia Liberal e cientificismo.
Se tomado isoladamente, este segundo bloco com os cânones de reprovação assemelha-se ao feitio do Syllabus Errorum que Pio IX havia publicado apenas seis anos antes do Concílio Vaticano I, em 1864, sob forma de uma lista que reprovava oitenta proposições. Contudo, no conjunto da constituição Dei Filius, esses cânones de agora ostentam diferença importante: eles não mais compõem o foco do documento, que visa em primeiro lugar a apresentação positiva da doutrina no belicoso contexto de uma Igreja Católica hostilizada de quase todos os lados (SCHEFFCZYK, 1968, p. 87).
Conclusão
A Dei Filius foi fruto de contexto no qual a doutrina da fé católica estava em situação dramática. Sobretudo as hostilidades das correntes derivadas do Iluminismo executavam duros golpes contra a essência da fé e a existência da Igreja. A Dei Filius foi a instância doutrinal na qual a Igreja Católica encarou e respondeu – mesmo que de modo incompleto e redutivo – a esses ataques no campo da revelação e da fé, no âmago da Teologia Fundamental. O documento quis “salvaguardar os fundamentos da possibilidade da revelação de Deus, contra uma razão por demais pretensiosa e contra uma visão pessimista da razão humana” (LIBANIO, 1992, p. 385). O exame da Dei Filius, portanto, precisa também passar ao crivo a modernidade com a qual o documento se defronta (BAUMEISTER, 2020, p. 14). As correntes que desferiam os golpes carregavam em si, não menos que a Igreja Católica, o trigo e o joio. A modernidade expressa em tais correntes mostrou com o tempo que também possui potencialidades forjadoras de movimentos que a corrompem – comunismo, Teologia da Prosperidade, teoria do pluralismo religioso – ou interrompem – nazismo, tradicionalismo. Eram correntes de pensamento que, de maneira eficaz, não raramente sustentavam elementos antagonistas a aspectos essenciais da fé cristã (CHAPPIN, 2017, p. 858-859). Em virtude do contexto de hostilidades em que foi gestada, a Dei Filius não foi exposição serena a respeito da fé e da revelação, nem ofereceu exposição completa a respeito. O que vem afirmado na constituição Dei Filius precisa ser suscetível aos notáveis resgates posteriores feitos pela Teologia e pelo Magistério imbuídos da “volta às fontes” ou ressourcement, que recobraram elementos fulcrais sobre revelação e fé encontrados no evento de Jesus Cristo e nos textos dos Padres da Igreja.
César Andrade Alves SJ. Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – Belo Horizonte, Brasil. Texto enviado em 30/05/2023, aprovado em 20/10/2023, postado em 31/12/203. Texto original em português.
Referências
ALLEN, J.A. A Commentary on the First Vatican Council’s Dei Filius. Irish Theological Quarterly, Maynooth, v. 81, n. 2, p. 138-151, March/May 2016.
AUBERT, R. Vatican I. Paris: De L’Orante, 1964. (Histoire des Conciles Œcuméniques, 12).
BAUMEISTER, M. et al. (orgs.). Il Concilio Vaticano I e la modernità. Roma: G&BPress, 2020.
BRUGERETTE, J.; AMANN, É. Vatican, Concile du. In: VACANT, A.; MANGENOT, E.; AMANN, É. (orgs.). Dictionnaire de Théologie Catholique. Paris: Letouzey et Ané, 1950. v. 15/2, p. 2536-2585.
CHAPPIN, M. Vaticano I. In: LATOURELLE, R.; FISICHELLA, R. (orgs.). Dicionário de Teologia Fundamental. Petrópolis: Vozes, 2017. p. 857-860.
CONCÍLIO VATICANO I. Dei Filius. Roma: 1870. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/i-vatican-council/index_it.htm. Acesso em: 5.fevereiro.2023.
DH = DENZINGER, H.; HÜNERMANN, P. (orgs.). Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. São Paulo: Paulinas; Loyola, 2007.
ERCOLE, F. Stato della Chiesa. In: ENCICLOPEDIA ITALIANA. Milano-Roma: Treccani, 1931. v. 10, p. 38-46.
LIBANIO, J.B. Teologia da Revelação a partir da Modernidade. São Paulo: Loyola, 1992.
LONERGAN, B. The natural knowledge of God. Proceedings of the Catholic Theological Society of America, Washington, D.C., v. 23, p. 54-69, June 1968.
O’MALLEY, J.W. El Vaticano I. Maliaño: Sal Terrae, 2019. (Presencia Teológica, 272).
POTTMEYER, H.J. Der Glaube vor dem Anspruch der Wissenschaft: die Konstitution über den katholischen Glauben Dei Filius des Ersten Vatikanischen Konzils und die unveröffentlichten theologischen Voten der vorbereitenden Kommission. Freiburg: Herder 1968. (Freiburger theologische Studien, 87).
REGIO DECRETO 9 ottobre 1870, n. 5903. Disponível em: https://www.normattiva.it/eli/id/1870/10/09/070U5903/ORIGINAL Acesso em: 5.fevereiro.2023.
SANCHEZ, W.L. Concílio Vaticano I. In: PASSOS, J.D.; SANCHEZ, W.L. (orgs.). Dicionário do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus-Paulinas, 2015. p. 183-184.
SCHEFFCZYK, L. Die dogmatische Konstitution “Über den katholischen Glauben” des Vatikanum I und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Theologie. Münchener theologische Zeitschrift, München, v. 22, n. 1-2, p. 76-94, Januar/Juni 1971.
STATO PONTIFICIO. In: ENCICLOPEDIA TRECCANI. Roma: Treccani, 2022. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/stato-pontificio/ Acesso em: 5.fevereiro.2023.
THEOBALD, C. Do Vaticano I a 1950. In: SESBOÜÉ, B. (org.). História dos Dogmas: a Palavra da Salvação. v. 4. São Paulo: Loyola, 2006. p. 191-384.
VACANT, J.-M.-A. Études théologiques sur les constitutions du Concile du Vatican d’après les actes du Concile: la constitution Dei Filius. 2 v. Paris: Delhomme et Briguet, 1895.
[1] Dei Filius et generis humani Redemptor Dominus Noster Iesus Christus, ad Patrem caelestem rediturus, cum Ecclesia sua in terris militante, omnibus diebus usque ad consummationem saeculi futurum se esse promisit. Quare dilectae sponsae praesto esse, adsistere docenti, operanti benedicere, periclitanti opem ferre nullo unquam tempore destitit (CONCÍLIO VATICANO I, 1870, sem paginação).
[2] Divina veritas, intellectum humanum excedens, per modum revelationis in nos descendit, non tamen quasi demonstrata ad videndum, sed quasi sermone prolata ad credendum (Suma Contra Gentios IV, 1).
[3] Haec porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem a sancta Tridentina Synodo declaratam continetur ‘in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt’ (DH 3006).
[4] “sacra Biblia […] christianae doctrinae unicus fons et iudex asserebantur” (CONCÍLIO VATICANO I, 1870, sem paginação).
[5] “hoc quoque perpetuus Ecclesiae catholicae consensus tenuit et tenet, duplicem esse ordinem cognitionis […] distinctum […]; in altero naturali ratione, in altero fide divina cognoscimus; […] praeter ea, ad quae naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quae, nisi revelata divinitus, innotescere non possunt” (DH 3015).
[6] “Eadem sancta mater Ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse, […] attamen placuisse eius sapientiae et bonitati, alia eaque supernaturali via se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare” (DH 3004).
[7] “Hanc vero fidem, quae humanae salutis initium est, Ecclesia catholica profitetur, virtutem esse supernaturalem, qua, Dei aspirante et adiuvante gratia, ab eo revelata vera esse credimus” (DH 3008).
[8] “minime par est condicio eorum, qui per caeleste fidei donum catholicae veritati adhaeserunt, atque eorum, qui ducti opinionibus humanis falsam religionem sectantur” (DH 3014).
[9] “Quin etiam Ecclesia per se ipsa, ob suam nempe admirabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis foecunditatem, ob catholicam unitatem invictamque stabilitatem magnum quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis” (DH 3013).
[10] “Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen umquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit, Deus autem negare se ipsum non possit, nec verum vero umquam contradicere” (DH 3017)
[11] “Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multis modis iuvet atque promoveat. Non enim commoda ab iis ad hominum vitam dimanantia aut ignorat aut despicit; fatetur immo, eas, quemadmodum a Deo scientiarum Domino profectae sunt, ita, si rite pertractentur, ad Deum iuvante eius gratia perducere. Nec sane ipsa vetat, ne huiusmodi disciplinae in suo quaeque ambitu propriis utantur principiis et propria methodo” (DH 3019).
Dionísio Pseudo Areopagita (O corpus dionysiacum)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX